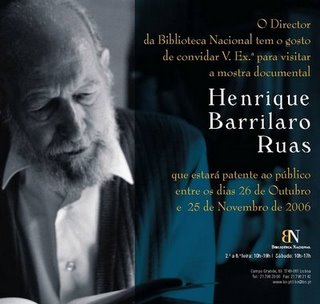CARTA DO CANADÁ
por Fernanda Leitão
Sabemos que o mundo vai mal e está perigoso a ponto de nos deixar atemorizados, porque a comunicação social, um pouco por toda a terra, nos relata diariamente a maldade humana na sua prodigiosa criatividade. No entanto, quando abrimos o jornal ou ligamos a TV ou a rádio, temos sempre esperança de encontrar o oásis de uma boa notícia. Pura ilusão. A literatura efémera que é a imprensa, é feita por homens e mulheres, eles próprios temerosos, obsecados pela realização do que julgam ser um esconjuro.
É claro que o mal é contagioso, mas não é menos certo que o bem também o é. Por essa razão todos precisamos de pais e educadores que nos formem pelo exemplo, de governantes e oposições que se imponham ao nosso respeito pela boa conduta, de sacerdotes que nos guiem pela sua prática despojada e luminosa. Relatar o que é bom, creio, trará a luz onde há só há sombra mediática.
Por tudo isto e porque estamos no Natal, a poucos dias da celebração do nascimento de quem deu sangue e vida pelos trastes que nós somos, tomo a liberdade de deixar no vosso sapatinho um apontamento bonito.
O caso passou-se no Canadá, um país onde o livre mercado e o capitalismo existem e dominam, algumas vezes descambando em selvajaria. Só podem ter sido selvagens os que lançaram amigos meus ao desemprego, ao fim de 20 e muitos anos de leal serviço na mesma empresa, através de uma seca mensagem electrónica que os infelizes encontraram ao abrir o computador, como faziam todas as manhãs mal entravam nos escritórios.
Mariana era uma funcionária altamente qualificada de uma multinacional. Tinha aquilo que se chama de um lugarão, bem pago, com muitas viagens e mordomias várias. Viu reconhecido o seu talento, inteligência e preparação adquirida num bem sucedido curso universitário. Este ano foi nomeada directora dos recursos humanos da empresa, o que a deixou encantada na presunção de poder contribuir para melhores condições de todos os funcionários. Poucas semanas depois, ficou diante da armadilha: a administração encarregava-a de despedir uns centos de empregados, sacrificados no altar da famosa reestruturação empresarial, essa que, muitas vezes, não passa de substituir homens por máquinas, numa prova descarada de estar o homem ao serviço da economia e não esta ao serviço do homem, como manda a moral e o bom senso. Mariana, com o coração partido, procurou obedecer à ordem sem fazer muito sangue, isto é, escolhendo os funcionários que podiam saír com reforma ou os muito jovens que facilmente podiam arranjar trabalho noutro lado.
Mas o compressor do capitalismo ganancioso tratou de a apertar cada vez mais. Até ao dia em que exigiu o despedimento de uma secretária de meia idade, competentíssima, alinhadíssima, a braços com uma situação conjugal grave que a obrigava a ser pai e mãe ao mesmo tempo.
Foi nessa altura que aconteceu o que é uma boa notícia. Mariana apresentou-se ao presidente da multinacional e tratou de lhe propor o seu próprio despedimento em troca do despedimento daquela mulher numa idade que não proporciona um emprego encontrado facilmente. O presidente ficou assombrado, mas Mariana não se poupou a argumentos até conseguir o seu objectivo.
Saíu de cabeça levantada e coração leve. Não vai sentir remorsos na celebração da consoada. Depois das festas, passadas com o marido e o seu primeiro filho, irá procurar outro trabalho. Já agora, aqui vai o resto da boa notícia: Mariana é portuguesa, casada com um português. Não se considera uma intelectual vanguardista ou a Madre Teresa de Calcutá. É, apenas, uma pessoa de bem e de coragem. Um bom exemplo.
Desejo-lhe um Santo Natal, leitor.
Nos liberi sumus; Rex noster liber est, manus nostrae nos liberverunt... [Nós somos livres; nosso Rei é livre, nossas mãos nos libertaram...]
quarta-feira, dezembro 20, 2006
Documentos do Arquivo Secreto Vaticano
Documentos do Arquivo Secreto Vaticano sobre II República e Guerra Civil espanhola
Entrevista ao sacerdote e historiador Vicente Cárcel Ortí
ROMA, terça-feira, 19 de dezembro de 2006 (ZENIT.org).- Estão injetando «muito veneno» no corpo da Espanha: é a constatação que faz à agência Zenit o sacerdote e historiador espanhol Vicente Cárcel Ortí, que na terça-feira passada falou em Roma sobre os novos documentos do Arquivo Secreto Vaticano que oferecem uma luz sobre a etapa da II República Espanhola e a Guerra Civil (1931-1939).
Cárcel Ortí ofereceu uma conferência no Centro de Estudos Eclesiásticos -- ligado à Igreja de Santiago e Montserrat -- sobre esse período histórico preciso de divisão na Espanha e de perseguição religiosa à luz de novos achados nos Arquivos Vaticanos, de recente abertura por decisão de Bento XVI.
Desde 18 de setembro, a documentação relativa ao pontificado de Pio XI (6 de fevereiro de 1922 – 10 de fevereiro de 1939) está à disposição dos historiadores. Cárcel Ortí foi o primeiro espanhol que esse mesmo dia começou a examinar estes textos com o fim de publicá-los na íntegra nos próximos anos em uma obra dividida em vários volumes, que se titulará «Documentos do Arquivo Secreto Vaticano sobre a Segunda República e a Guerra Civil» (1931-1939).
Vicente Cárcel Ortí, natural de Manises (Valência), foi Chefe da Chancelaria do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica até o ano passado, em que se aposentou voluntariamente para dedicar-se à pesquisa histórica e ao ministério pastoral em uma paróquia romana.
Também é atualmente Vigário Episcopal para os sacerdotes valencianos residentes em Roma. Desde 1967, vive no Colégio Espanhol da capital italiana.
--Estes documentos vaticanos concernentes à história da Espanha, em concreto da Igreja, ofereceram surpresas?
--Carcel Ortí: Mais que surpresas, ofereceram dados até agora desconhecidos para precisar alguns pontos polêmicos e discutidos, que devem ser esclarecidos e reforçam a tese de que a República atacou abertamente a Igreja e os católicos e de que o Vaticano aconselhou sempre moderação e prudência para não provocar males maiores, sobretudo quando começou a perseguição religiosa.
--Brevemente, qual era a situação da Igreja durante a II República e durante a Guerra Civil espanhola?
--Carcel Ortí: A Santa Sé reconheceu imediatamente a República e pediu aos bispos e católicos em geral que a aceitassem lealmente e colaborassem com ela pelo bem comum de todos os espanhóis.
A Igreja demonstrou muita paciência ao suportar a política abertamente hostil, discriminatória e humilhante dos republicanos, que violaram o primeiro e fundamental dos direitos humanos, que é a liberdade religiosa.
Quando começou a Guerra Civil, a Santa Sé continuou reconhecendo a República como governo legítimo da Espanha, e somente em maio de 1938 decidiu reconhecer o Governo nacional, ainda que com muitas reservas, devido às infiltrações de paganismo nazista na ideologia da Falange; mas então a República havia perdido muito crédito no âmbito internacional. De fato, outras nações começaram a reconhecer o novo regime e a enviar embaixadores a Franco.
Os bispos demoraram exatamente um ano em pronunciar-se, com a carta coletiva de 1º de julho de 1937, a favor dos nacionais; mas para essa data, já haviam sido assassinados mais de quatro mil sacerdotes e religiosos.
--O senhor fala de «holocausto de sacerdotes, religiosos e católicos» entre 1936 e 1939. Holocausto?
--Carcel Ortí: Certamente, porque estava programada a destruição total da Igreja em seu conjunto, e aí estão os dados que demonstram isso.
Não só foram assassinados milhares de sacerdotes, religiosos e católicos por motivos de fé, mas também milhares de templos foram destruídos e incendiados, e com eles desapareceu para sempre um ingente patrimônio histórico, artístico e cultural que nunca mais voltaremos a ver.
O ministro republicano da Justiça, Manuel de Irujo, denunciou, em um Conselho de Ministros a princípios de 1937, que a República se havia convertido em um «regime verdadeiramente fascista, porque cada dia a consciência individual dos crentes era ultrajada pelas forças do poder público».
E o professor Dominguez Ortiz escreveu: «A perseguição à Igreja foi, além de uma atrocidade, um tremendo erro, e dos que mais prejudicam a causa republicana. Por isso, não têm razão os que hoje exigem da Igreja que peça perdão por isso; não têm razão porque não é lógico que as vítimas peçam perdão aos verdugos». Refere-se ao apoio da Igreja aos nacionais, porque os republicanos realizaram uma perseguição de morte.
--Ser imparcial quando se fala de guerra, por exemplo, da Guerra Civil espanhola, é possível e desejável?
--Carcel-Ortí: É desejável, mas muito difícil, porque custa muito admitir as razões do outro.
Devemos fazer, todos, um grande esforço, setenta anos depois, apesar da parcialidade inerente em cada pessoa, para reconhecer que, entre tantos vícios e defeitos, republicanos e nacionais também tinham algumas virtudes: a sagacidade, a valentia, o vigor e a lealdade a seus próprios ideais políticos.
--Há quem compara os anos da República espanhola com a política hostil e discriminatória dos católicos na Espanha de hoje. Exageros?
--Carcel Ortí: Estão se repetindo pontualmente muitos dos erros que levaram fatalmente à divisão trágica dos espanhóis, porque não se busca a concórdia, mas a confrontação aberta,; não a tolerância, mas o totalitarismo ideológico; não a democracia, mas a partidocracia; não o respeito das idéias e símbolos cristãos, mas a ofensa permanente dos mesmos. E isso cria divisão.
Desenterram mortos com fins políticos e não podemos continuar vivendo de cadáveres, que alimentam polêmicas infinitas e, com freqüência, indecentes.
O passado é passado. Não o liquidemos, não o arquivemos, mas não o usemos mais uns contra outros, para sustentar as teses de que gostamos ou que nos acomodam, nem para condenar as que não coincidem com as nossas ou as contradizem.
A razão não estava em uma parte e o erro em outra: esta é uma visão maniqueísta, falsa e inaceitável. Bons e maus, valentes e covardes militaram em um e outro bando. Mas tudo isso já passou e não deve repetir-se nunca mais.
Mas agora se está injetando de novo muito veneno no corpo de uma Espanha que durante o qüinqüênio republicano dividiu profundamente os cidadãos e, depois de uma guerra terrível, após quarenta anos, não conseguiu reconciliá-los.
A Transição o tentou, mas agora voltamos a ter uma Espanha dividida em facções rancorosas e litigiosas. E não podemos continuar vivendo assim.
ZP06121908
Entrevista ao sacerdote e historiador Vicente Cárcel Ortí
ROMA, terça-feira, 19 de dezembro de 2006 (ZENIT.org).- Estão injetando «muito veneno» no corpo da Espanha: é a constatação que faz à agência Zenit o sacerdote e historiador espanhol Vicente Cárcel Ortí, que na terça-feira passada falou em Roma sobre os novos documentos do Arquivo Secreto Vaticano que oferecem uma luz sobre a etapa da II República Espanhola e a Guerra Civil (1931-1939).
Cárcel Ortí ofereceu uma conferência no Centro de Estudos Eclesiásticos -- ligado à Igreja de Santiago e Montserrat -- sobre esse período histórico preciso de divisão na Espanha e de perseguição religiosa à luz de novos achados nos Arquivos Vaticanos, de recente abertura por decisão de Bento XVI.
Desde 18 de setembro, a documentação relativa ao pontificado de Pio XI (6 de fevereiro de 1922 – 10 de fevereiro de 1939) está à disposição dos historiadores. Cárcel Ortí foi o primeiro espanhol que esse mesmo dia começou a examinar estes textos com o fim de publicá-los na íntegra nos próximos anos em uma obra dividida em vários volumes, que se titulará «Documentos do Arquivo Secreto Vaticano sobre a Segunda República e a Guerra Civil» (1931-1939).
Vicente Cárcel Ortí, natural de Manises (Valência), foi Chefe da Chancelaria do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica até o ano passado, em que se aposentou voluntariamente para dedicar-se à pesquisa histórica e ao ministério pastoral em uma paróquia romana.
Também é atualmente Vigário Episcopal para os sacerdotes valencianos residentes em Roma. Desde 1967, vive no Colégio Espanhol da capital italiana.
--Estes documentos vaticanos concernentes à história da Espanha, em concreto da Igreja, ofereceram surpresas?
--Carcel Ortí: Mais que surpresas, ofereceram dados até agora desconhecidos para precisar alguns pontos polêmicos e discutidos, que devem ser esclarecidos e reforçam a tese de que a República atacou abertamente a Igreja e os católicos e de que o Vaticano aconselhou sempre moderação e prudência para não provocar males maiores, sobretudo quando começou a perseguição religiosa.
--Brevemente, qual era a situação da Igreja durante a II República e durante a Guerra Civil espanhola?
--Carcel Ortí: A Santa Sé reconheceu imediatamente a República e pediu aos bispos e católicos em geral que a aceitassem lealmente e colaborassem com ela pelo bem comum de todos os espanhóis.
A Igreja demonstrou muita paciência ao suportar a política abertamente hostil, discriminatória e humilhante dos republicanos, que violaram o primeiro e fundamental dos direitos humanos, que é a liberdade religiosa.
Quando começou a Guerra Civil, a Santa Sé continuou reconhecendo a República como governo legítimo da Espanha, e somente em maio de 1938 decidiu reconhecer o Governo nacional, ainda que com muitas reservas, devido às infiltrações de paganismo nazista na ideologia da Falange; mas então a República havia perdido muito crédito no âmbito internacional. De fato, outras nações começaram a reconhecer o novo regime e a enviar embaixadores a Franco.
Os bispos demoraram exatamente um ano em pronunciar-se, com a carta coletiva de 1º de julho de 1937, a favor dos nacionais; mas para essa data, já haviam sido assassinados mais de quatro mil sacerdotes e religiosos.
--O senhor fala de «holocausto de sacerdotes, religiosos e católicos» entre 1936 e 1939. Holocausto?
--Carcel Ortí: Certamente, porque estava programada a destruição total da Igreja em seu conjunto, e aí estão os dados que demonstram isso.
Não só foram assassinados milhares de sacerdotes, religiosos e católicos por motivos de fé, mas também milhares de templos foram destruídos e incendiados, e com eles desapareceu para sempre um ingente patrimônio histórico, artístico e cultural que nunca mais voltaremos a ver.
O ministro republicano da Justiça, Manuel de Irujo, denunciou, em um Conselho de Ministros a princípios de 1937, que a República se havia convertido em um «regime verdadeiramente fascista, porque cada dia a consciência individual dos crentes era ultrajada pelas forças do poder público».
E o professor Dominguez Ortiz escreveu: «A perseguição à Igreja foi, além de uma atrocidade, um tremendo erro, e dos que mais prejudicam a causa republicana. Por isso, não têm razão os que hoje exigem da Igreja que peça perdão por isso; não têm razão porque não é lógico que as vítimas peçam perdão aos verdugos». Refere-se ao apoio da Igreja aos nacionais, porque os republicanos realizaram uma perseguição de morte.
--Ser imparcial quando se fala de guerra, por exemplo, da Guerra Civil espanhola, é possível e desejável?
--Carcel-Ortí: É desejável, mas muito difícil, porque custa muito admitir as razões do outro.
Devemos fazer, todos, um grande esforço, setenta anos depois, apesar da parcialidade inerente em cada pessoa, para reconhecer que, entre tantos vícios e defeitos, republicanos e nacionais também tinham algumas virtudes: a sagacidade, a valentia, o vigor e a lealdade a seus próprios ideais políticos.
--Há quem compara os anos da República espanhola com a política hostil e discriminatória dos católicos na Espanha de hoje. Exageros?
--Carcel Ortí: Estão se repetindo pontualmente muitos dos erros que levaram fatalmente à divisão trágica dos espanhóis, porque não se busca a concórdia, mas a confrontação aberta,; não a tolerância, mas o totalitarismo ideológico; não a democracia, mas a partidocracia; não o respeito das idéias e símbolos cristãos, mas a ofensa permanente dos mesmos. E isso cria divisão.
Desenterram mortos com fins políticos e não podemos continuar vivendo de cadáveres, que alimentam polêmicas infinitas e, com freqüência, indecentes.
O passado é passado. Não o liquidemos, não o arquivemos, mas não o usemos mais uns contra outros, para sustentar as teses de que gostamos ou que nos acomodam, nem para condenar as que não coincidem com as nossas ou as contradizem.
A razão não estava em uma parte e o erro em outra: esta é uma visão maniqueísta, falsa e inaceitável. Bons e maus, valentes e covardes militaram em um e outro bando. Mas tudo isso já passou e não deve repetir-se nunca mais.
Mas agora se está injetando de novo muito veneno no corpo de uma Espanha que durante o qüinqüênio republicano dividiu profundamente os cidadãos e, depois de uma guerra terrível, após quarenta anos, não conseguiu reconciliá-los.
A Transição o tentou, mas agora voltamos a ter uma Espanha dividida em facções rancorosas e litigiosas. E não podemos continuar vivendo assim.
ZP06121908
quinta-feira, dezembro 14, 2006
O assassínio do rei D. João VI (1826)
Com a devida vénia a Manuel Azinhal, aqui se reproduz uma importante chamada de atenção aos historiadores portugueses:
O outro regicídio "Já aqui [http://viriatos.blogspot.com/] tinha chamado a atenção para um trabalho colectivo que encontrei na rede intitulado "CAUSAS DE MORTE DE D. JOÃO VI" (no sítio dedicado a São Vicente de Fora).
Repito o alerta, agora movido pelas leituras de uns alfarrábios que me ocuparam este domingo.
O trabalho em causa é de extraordinário interesse para quem se interessa pela história política daquele período conturbado. Constitui um contributo de ora em diante impossível de ignorar em debates que se arrastam desde 1826.
Nem o título dá uma medida aproximada da sua importância: na verdade não se trata apenas das causas da morte de D. João VI, onde traz uma confirmação decisiva sobre a velha suspeita do homicídio por envenenamento. Por arrastamento faz também luz sobre a questão da data da morte, que desde esses dias se suspeitava não ser a anunciada. E continuando entra inevitavelmente na questão da autenticidade da carta régia de 6 de Março, publicada a 8 de Março, em que era indigitada a Infanta Isabel Maria para Regente do Reino... Se sempre tinha havido a dúvida sobre a sua autenticidade, este estudo, o clínico e o grafológico, apontam num sentido inequívoco: não é do Rei aquela rúbrica, e naquela data o Rei já estaria morto. O que torna perfeitamente lógico o arrastar do anúncio do óbito: era preciso forjar o documento (a 6) e publicá-lo (a 8, na Gazeta de Lisboa) e só depois podia o Rei morrer - no dia 10 troaram os canhões de São Jorge e a notícia tornou-se oficial. Mas depois deste estudo restam poucas dúvidas: o Rei ou morreu logo a 5, não resistindo ao envenenamento por arsénico sofrido a 4, ou morreu na madrugada de dia 6, como afirmaram poucos dias depois manifestos de origem realista que circularam em Lisboa. Temos assim presentes um regicídio seguido de um golpe de estado constitucional, que se concretizou nos dias seguintes, com a elaboração do documento para afastar a regência das mãos a quem ela cabia, e conseguir depois decidir a sucessão, através da constituição apressada de um Conselho de Regência de estranha composição, e com a imediata partida para o Brasil, no dia 12, dos representantes desse Conselho a suplicar a vinda de D. Pedro - que ainda pouco antes jurava ser estrangeiro e desejar ser tratado como se o tivesse sido sempre...
Creio bem que os autores deste trabalho, até pela respectiva formação ser de outras áreas científicas, não se deram conta das implicações históricas do que fizeram constar nas suas conclusões.
Mas o que ali está escrito não pode passar despercebido a quem tenha a paixão da História, e de Portugal. Uma semana decisiva da História de Portugal passa a estar esclarecida de um modo impossível de antever ainda há poucas décadas."
Os estudos em referência estão disponíveis em
http://www.fam.org.pt/web/paulomiranda/SVicente/DJoaoVI/DJVI01.htm">http://www.fam.org.pt/web/paulomiranda/SVicente/DJoaoVI/DJVI01.htm
(Já não estão disponíveis on-line nesse espaço. Tivemos conhecimento deste facto em 11.7.2007.)
Perante uma dúvida levantada, Manuel Azinhal respondeu:
Ainda a morte de D. João VI
O estimado e admirado JM deixou um comentário ao meu apontamento sobre a morte de D. João VI que se traduz em recordar a dúvida sobre a autoria: sempre os malhados podiam retorquir a qualquer suspeita contra eles lançada que os homicidas tinham sido os corcundas, e com efeito também esse rumor foi posto a correr na época.
Como a discussão é susceptível de interessar a mais gente, respondo aqui a essa observação (caso o JM pretenda usar da mesma faculdade tem esta casa ao seu dispor, e muito a valorizava).
Já que me espicaçou, agora atura-me.
Com todo o respeito pelo ilustre interpelante, nesta questão não parece haver fundamento para grandes dúvidas.
A haver crime, e era só o que se punha em dúvida, na situação então existente só o podiam ter cometido os que tinham o Rei inteiramente à sua mercê e nas suas mãos.
O rumor sobre os "corcundas" surgiu tardiamente, e claramente em contra-ofensiva.
Mas nunca foi levado a sério por ninguém: repare-se que os factos a que eu aludi só poderiam ser praticados por quem dominasse o "palácio".
E a intencionalidade desses factos resulta clara e iniludível: afastar a Regência de D. Carlota Joaquina, e afastar da sucessão o Infante D. Miguel.
Nem a Rainha, completamente incomunicável no Ramalhão, nem o Infante, então no exílio, podiam ter mantido o Paço de Bemposta em isolamento total e ir elaborando as informações diárias sobre o estado de saúde do Rei, e ainda para mais mandar fabricar um documento que impunha uma Regência contra as normas até aí conhecidas e que obviamente visava mantê-los para sempre afastados do poder. Nem certamente o publicariam na Gazeta oficial…
Os autores e executores do plano foram logo em cima do acontecimento apontados ao público: Lacerda, Barradas e Rendufe, que eram quem tinha as chaves e o poder para comandar estes acontecimentos. O Rei era um refém na Bemposta, ninguém tinha nem teve acesso a ele durante esse período.
Quanto ao documento em que tudo indica residir o essencial da questão, até correu a identidade do autor material da falsificação: terá sido um funcionário do Ministério da Justiça de nome José Balbino. O que bate certo com o pormenor de ser Ministro da Justiça precisamente o referido Barradas.... e bate certo também com a conclusão do exame grafológico quando este diz que a rúbrica foi feita por mão habituada ao uso do aparo, e hábil no ofício, e não condiz nem com a escrita do Rei nem com a imperfeição manual de um moribundo.
Pode objectar-se, e pensei nisso, que quem praticou o envenenamento foram uns e quem a seguir executou o golpe foram os outros. Teria a sua lógica, já que a morte súbita do Rei teria a consequência de chamar à Regência a Rainha, numa reviravolta dramática na situação política: Carlota Joaquina passaria repentinamente de uma situação de prisão domiciliária para o poder, e o governo recente teria que fugir de rabo enrolado. E D. Miguel viria do estrangeiro para reunir Cortes e ser aclamado como Rei. Portanto, o poder que foi surpreendido pela morte do Rei teria sido obrigado a congelar a notícia por uns dias para remediar a situação, elaborar a Carta Régia que indigitava uma Regência anómala e abrir caminho para ir chamar D. Pedro.
Mas mesmo esta hipótese não se apresenta nada provável. A este respeito, como facto interessante, refira-se que pela correspondência do Núncio de então verifica-se que o Rei andava a insistir na "reconciliação" com a Rainha; traduzindo a expressão pode calcular-se o que isto queria dizer em termos políticos para o governo em funções. Também várias fontes referem que o Rei, desgostado pelo desfecho das negociações que conduziram ao reconhecimento da Independência do Brasil, em que dizia ter sido levado a assinar como coisa consumada documentos que não correspondiam à sua vontade, manifestava cada vez com mais insistência a preocupação com o problema dinástico; e propunha-se organizar o regresso de D. Miguel do exílio. Atente-se em que depois de assinados os tratados com o Brasil a situação de D. Pedro aparentava estar esclarecida e consumada, era um Imperador de uma potência estrangeira e abdicava expressamente de quaisquer direitos em Portugal. O Infante D. Miguel era o único filho que restava, afigura-se inevitável que o Rei, como outro qualquer nessa situação, pensasse na sucessão.
Tudo visto, parece poder concluir-se que os governantes de então andavam justificadamente aflitos: se deixassem andar a carruagem teriam previsivelmente que suportar de novo a Rainha e o Infante, que tanto lhes tinha custado a anular.
Acrescento o pormenor curioso do relato do embaixador britânico sobre a sua visita de condolências à Rainha, uns dois meses depois, no Ramalhão, em que este menciona que a Rainha lhe afirmou ter informações de que o Rei tinha sido envenenado com "água tofana". Parece condizer com as descobertas científicas, porque "água tofana" é um composto de arsénico. A Rainha estava prisioneira, mas ainda assim teria os seus informadores. O povo dizia que tinha sido nas laranjas, mas esse pormenor nunca o saberemos; todavia, o que resultou do exame às reais vísceras é que foi na realidade arsénico.
Em resumo: neste caso, face ao que é certo e conhecido, não parece possível defender com um mínimo de seriedade a responsabilidade da Rainha e do Infante, que estavam em posição tal que nunca lhes seria possível executar este golpe, e foram notoriamente os alvos do mesmo.
Quanto ao episódio que conta, de D. Pedro, deixo só uma pergunta: se ele pensava que o pai tinha sido assassinado porque não pediu contas aos seus amigos que tinham assinado todos os comunicados e proclamações sobre a doença e a morte natural? Pelo contrário, todos passaram muito bem. Rendufe ainda passaria de Barão a Conde.
E essa intenção de se vingar de um irmão assassino é compatível com as atitudes de promover o casamento dele com sua filha, Rainha, e de o fazer regressar do exílio para essa função de príncipe consorte? A historieta parece fantasiosa. Acrescento aliás que sobre essa questão não conheço qualquer pronunciamento de D. Pedro que contrariasse a versão oficial.
E de igual modo sempre foi a versão oficial a proclamada pelos responsáveis liberais. De tal maneira que mesmo muito mais tarde, já em 1870 ou 71, quando o jornal miguelista "A Nação" voltou à carga com as acusações que acima referi a única reacção pública foi uma declaração de Saldanha anunciando que estava disposto a juntar-se ao então Duque de Palmela caso este decidisse processar o jornal por caluniar o nome do pai. Para o velho Saldanha o confronto era entre a verdade oficial (morte por doença) e a calúnia miguelista (o envenenamento pelo poder palaciano). Nada mais se discutia (e por sinal que não houve processo nenhum).
A sua síntese é excelente!, meu caro Manuel Azinhal.
JMQ
O outro regicídio "Já aqui [http://viriatos.blogspot.com/] tinha chamado a atenção para um trabalho colectivo que encontrei na rede intitulado "CAUSAS DE MORTE DE D. JOÃO VI" (no sítio dedicado a São Vicente de Fora).
Repito o alerta, agora movido pelas leituras de uns alfarrábios que me ocuparam este domingo.
O trabalho em causa é de extraordinário interesse para quem se interessa pela história política daquele período conturbado. Constitui um contributo de ora em diante impossível de ignorar em debates que se arrastam desde 1826.
Nem o título dá uma medida aproximada da sua importância: na verdade não se trata apenas das causas da morte de D. João VI, onde traz uma confirmação decisiva sobre a velha suspeita do homicídio por envenenamento. Por arrastamento faz também luz sobre a questão da data da morte, que desde esses dias se suspeitava não ser a anunciada. E continuando entra inevitavelmente na questão da autenticidade da carta régia de 6 de Março, publicada a 8 de Março, em que era indigitada a Infanta Isabel Maria para Regente do Reino... Se sempre tinha havido a dúvida sobre a sua autenticidade, este estudo, o clínico e o grafológico, apontam num sentido inequívoco: não é do Rei aquela rúbrica, e naquela data o Rei já estaria morto. O que torna perfeitamente lógico o arrastar do anúncio do óbito: era preciso forjar o documento (a 6) e publicá-lo (a 8, na Gazeta de Lisboa) e só depois podia o Rei morrer - no dia 10 troaram os canhões de São Jorge e a notícia tornou-se oficial. Mas depois deste estudo restam poucas dúvidas: o Rei ou morreu logo a 5, não resistindo ao envenenamento por arsénico sofrido a 4, ou morreu na madrugada de dia 6, como afirmaram poucos dias depois manifestos de origem realista que circularam em Lisboa. Temos assim presentes um regicídio seguido de um golpe de estado constitucional, que se concretizou nos dias seguintes, com a elaboração do documento para afastar a regência das mãos a quem ela cabia, e conseguir depois decidir a sucessão, através da constituição apressada de um Conselho de Regência de estranha composição, e com a imediata partida para o Brasil, no dia 12, dos representantes desse Conselho a suplicar a vinda de D. Pedro - que ainda pouco antes jurava ser estrangeiro e desejar ser tratado como se o tivesse sido sempre...
Creio bem que os autores deste trabalho, até pela respectiva formação ser de outras áreas científicas, não se deram conta das implicações históricas do que fizeram constar nas suas conclusões.
Mas o que ali está escrito não pode passar despercebido a quem tenha a paixão da História, e de Portugal. Uma semana decisiva da História de Portugal passa a estar esclarecida de um modo impossível de antever ainda há poucas décadas."
Os estudos em referência estão disponíveis em
http://www.fam.org.pt/web/paulomiranda/SVicente/DJoaoVI/DJVI01.htm">http://www.fam.org.pt/web/paulomiranda/SVicente/DJoaoVI/DJVI01.htm
(Já não estão disponíveis on-line nesse espaço. Tivemos conhecimento deste facto em 11.7.2007.)
Perante uma dúvida levantada, Manuel Azinhal respondeu:
Ainda a morte de D. João VI
O estimado e admirado JM deixou um comentário ao meu apontamento sobre a morte de D. João VI que se traduz em recordar a dúvida sobre a autoria: sempre os malhados podiam retorquir a qualquer suspeita contra eles lançada que os homicidas tinham sido os corcundas, e com efeito também esse rumor foi posto a correr na época.
Como a discussão é susceptível de interessar a mais gente, respondo aqui a essa observação (caso o JM pretenda usar da mesma faculdade tem esta casa ao seu dispor, e muito a valorizava).
Já que me espicaçou, agora atura-me.
Com todo o respeito pelo ilustre interpelante, nesta questão não parece haver fundamento para grandes dúvidas.
A haver crime, e era só o que se punha em dúvida, na situação então existente só o podiam ter cometido os que tinham o Rei inteiramente à sua mercê e nas suas mãos.
O rumor sobre os "corcundas" surgiu tardiamente, e claramente em contra-ofensiva.
Mas nunca foi levado a sério por ninguém: repare-se que os factos a que eu aludi só poderiam ser praticados por quem dominasse o "palácio".
E a intencionalidade desses factos resulta clara e iniludível: afastar a Regência de D. Carlota Joaquina, e afastar da sucessão o Infante D. Miguel.
Nem a Rainha, completamente incomunicável no Ramalhão, nem o Infante, então no exílio, podiam ter mantido o Paço de Bemposta em isolamento total e ir elaborando as informações diárias sobre o estado de saúde do Rei, e ainda para mais mandar fabricar um documento que impunha uma Regência contra as normas até aí conhecidas e que obviamente visava mantê-los para sempre afastados do poder. Nem certamente o publicariam na Gazeta oficial…
Os autores e executores do plano foram logo em cima do acontecimento apontados ao público: Lacerda, Barradas e Rendufe, que eram quem tinha as chaves e o poder para comandar estes acontecimentos. O Rei era um refém na Bemposta, ninguém tinha nem teve acesso a ele durante esse período.
Quanto ao documento em que tudo indica residir o essencial da questão, até correu a identidade do autor material da falsificação: terá sido um funcionário do Ministério da Justiça de nome José Balbino. O que bate certo com o pormenor de ser Ministro da Justiça precisamente o referido Barradas.... e bate certo também com a conclusão do exame grafológico quando este diz que a rúbrica foi feita por mão habituada ao uso do aparo, e hábil no ofício, e não condiz nem com a escrita do Rei nem com a imperfeição manual de um moribundo.
Pode objectar-se, e pensei nisso, que quem praticou o envenenamento foram uns e quem a seguir executou o golpe foram os outros. Teria a sua lógica, já que a morte súbita do Rei teria a consequência de chamar à Regência a Rainha, numa reviravolta dramática na situação política: Carlota Joaquina passaria repentinamente de uma situação de prisão domiciliária para o poder, e o governo recente teria que fugir de rabo enrolado. E D. Miguel viria do estrangeiro para reunir Cortes e ser aclamado como Rei. Portanto, o poder que foi surpreendido pela morte do Rei teria sido obrigado a congelar a notícia por uns dias para remediar a situação, elaborar a Carta Régia que indigitava uma Regência anómala e abrir caminho para ir chamar D. Pedro.
Mas mesmo esta hipótese não se apresenta nada provável. A este respeito, como facto interessante, refira-se que pela correspondência do Núncio de então verifica-se que o Rei andava a insistir na "reconciliação" com a Rainha; traduzindo a expressão pode calcular-se o que isto queria dizer em termos políticos para o governo em funções. Também várias fontes referem que o Rei, desgostado pelo desfecho das negociações que conduziram ao reconhecimento da Independência do Brasil, em que dizia ter sido levado a assinar como coisa consumada documentos que não correspondiam à sua vontade, manifestava cada vez com mais insistência a preocupação com o problema dinástico; e propunha-se organizar o regresso de D. Miguel do exílio. Atente-se em que depois de assinados os tratados com o Brasil a situação de D. Pedro aparentava estar esclarecida e consumada, era um Imperador de uma potência estrangeira e abdicava expressamente de quaisquer direitos em Portugal. O Infante D. Miguel era o único filho que restava, afigura-se inevitável que o Rei, como outro qualquer nessa situação, pensasse na sucessão.
Tudo visto, parece poder concluir-se que os governantes de então andavam justificadamente aflitos: se deixassem andar a carruagem teriam previsivelmente que suportar de novo a Rainha e o Infante, que tanto lhes tinha custado a anular.
Acrescento o pormenor curioso do relato do embaixador britânico sobre a sua visita de condolências à Rainha, uns dois meses depois, no Ramalhão, em que este menciona que a Rainha lhe afirmou ter informações de que o Rei tinha sido envenenado com "água tofana". Parece condizer com as descobertas científicas, porque "água tofana" é um composto de arsénico. A Rainha estava prisioneira, mas ainda assim teria os seus informadores. O povo dizia que tinha sido nas laranjas, mas esse pormenor nunca o saberemos; todavia, o que resultou do exame às reais vísceras é que foi na realidade arsénico.
Em resumo: neste caso, face ao que é certo e conhecido, não parece possível defender com um mínimo de seriedade a responsabilidade da Rainha e do Infante, que estavam em posição tal que nunca lhes seria possível executar este golpe, e foram notoriamente os alvos do mesmo.
Quanto ao episódio que conta, de D. Pedro, deixo só uma pergunta: se ele pensava que o pai tinha sido assassinado porque não pediu contas aos seus amigos que tinham assinado todos os comunicados e proclamações sobre a doença e a morte natural? Pelo contrário, todos passaram muito bem. Rendufe ainda passaria de Barão a Conde.
E essa intenção de se vingar de um irmão assassino é compatível com as atitudes de promover o casamento dele com sua filha, Rainha, e de o fazer regressar do exílio para essa função de príncipe consorte? A historieta parece fantasiosa. Acrescento aliás que sobre essa questão não conheço qualquer pronunciamento de D. Pedro que contrariasse a versão oficial.
E de igual modo sempre foi a versão oficial a proclamada pelos responsáveis liberais. De tal maneira que mesmo muito mais tarde, já em 1870 ou 71, quando o jornal miguelista "A Nação" voltou à carga com as acusações que acima referi a única reacção pública foi uma declaração de Saldanha anunciando que estava disposto a juntar-se ao então Duque de Palmela caso este decidisse processar o jornal por caluniar o nome do pai. Para o velho Saldanha o confronto era entre a verdade oficial (morte por doença) e a calúnia miguelista (o envenenamento pelo poder palaciano). Nada mais se discutia (e por sinal que não houve processo nenhum).
A sua síntese é excelente!, meu caro Manuel Azinhal.
JMQ
quarta-feira, dezembro 13, 2006
Iberia 2040
Por Rafael L. Bardají
Elvas, 14 de marzo de 2040. Agencias.
“Por tercera vez consecutiva desde que se formara la República Ibérica entre Portugal y las regiones castellanas de la antigua España en el 2024, el Partido Popular Ibérico (PPI) ha vuelto a revalidar su mayoría absoluta en las urnas. Su líder, Carlos Joao Almeida será confirmado de nuevo como presidente de la república y contará como vicepresidente con Rodrigo Díez de Abellán. Ambos dirigentes han hecho hincapié durante toda su campaña en la necesidad de que el país mantenga firme sus lazos transatlánticos y siga disfrutando de los beneficios de formar parte del gran área económica atlántica establecida hace ya una década para integrar en un mercado único a las Américas y aquellos países europeos como Reino Unido, Irlanda, Noruega y Holanda, además de la República Ibérica, de vocación atlántica. La aplicación de políticas liberales y reformistas ha garantizado desde entonces un crecimiento constante para los miembros de esta zona económica, desarrollo que contrasta con la crisis instalada en la Unión Europea Continental.
El PPI ha sido la fuerza política dominante desde que Andalucía decidiera no incorporarse a la República a finales de 2023 y que su población, mayoritariamente compuesta por marroquíes, expresara en referéndum su deseo de convertirse en un territorio asociado al sultanato de Marruecos. De esa forma, una región que tradicionalmente votaba socialista favoreció la constitución de un área políticamente homogénea en el centro de la antigua España. Los socialistas de la anterior república de Portugal, que se opusieron ferozmente al plan de fusión con las regiones españolas que no deseaban seguir los pasos de Cataluña, el País Vasco y Galicia, fueron progresivamente abandonados por el electorado a favor de partidos de nuevo cuño de índole liberal o religiosos.
El reto más urgente del nuevo gobierno estriba en acelerar las negociaciones con Galicia, muy castigada económicamente e incapaz de salir de la crisis por sí misma, para su incorporación a la república, pero el más importante es hacer frente a la presión demográfica de la población norteafricana sobre su suelo. Los líderes del PPI ya han anunciado su compromiso con una política de inmigración selectiva que prime a aquellos ciudadanos provenientes de naciones con similar régimen de valores y que cuenten con las habilidades personales apropiadas al mercado laboral que los demanda. Así como el endurecimiento del proceso de nacionalización. Ser nacional de la República Ibérica debe ser producto de un compromiso activo, público y reiterado hacia el ordenamiento legal y el marco moral del país.
En el PPI recuerdan con amargura la transformación social de gran parte de Europa continental a causa de las grandes bolsas de emigrantes musulmanes que rechazaron en la gran crisis del 2010 todo los intentos de asimilación e integración y acabaron imponiendo la aplicación de su ley, la sharia, por encima del código civil y penal de los países de acogida. Tal y como, por otra parte, el gobierno socialista español aceptó para la comunidad musulmana de Ceuta y Melilla antes de anunciar que ya no formaban parte de España sino que se cedían a Marruecos. Conviene recordar que este proceso, donde los historiadores marcan el comienzo del fin de España, se realizó y fue posible por el clima político que entonces existente en el país, volcado en una reforma enmascarada de su marco constitucional y que a su vez comenzó en el 2006 con la aprobación del estatuto de Cataluña, cuando el gobierno central reconoció y admitió el derecho a que dicha región pasara a ser considerada una nación, en pié de igualdad a la misma España. De hecho, España dejó de ser una nación unitaria para convertirse en un marco amplio como nación de naciones. En el 2012, la nación catalana exigió contar con su propio Estado, al hilo de la ruptura de Bélgica y la aparición en ese país de dos estados autónomos, uno francófono y otro flamenco; y en el 2014 el País Vasco se convirtió de manera unilateral también en un Estado independiente. Ambos solicitarían formar parte de la Unión Europea y aunque lo lograrían con rapidez, durante su adhesión se produciría la ruptura interna de la UE motivada por quienes veían en el ingreso de Turquía un grave riesgo para su coherencia interna. El auge del Islam radical entre los emigrantes en Europa, cuyo primer brote fue el asesinato en Holanda de un director de cine poco conocido, Theo van Gogh, pero que se volvió más agresivo con el asalto a los principales museos, entre ellos el desaparecido El Prado, para destruir obras de arte que los imanes agitadores juzgaban contrarias al buen orden musulmán por mostrar desnudos, rompió el frágil consenso sobre el ser de Europa. Francia y Alemania, temerosos de suscitar mayor violencia por parte de sus poblaciones inmigrantes aceptaron que Europa perdiera sus señas de identidad y equipararon la sharia a su marco legal, a la vez que abrieron sus puertas a más emigrantes musulmanes. Es en este giro motivado por el impacto doméstico del Islam donde puede explicarse también los movimientos para abandonar el euro y la UE por parte de los más proatlánticos y la formación del área económica en esa zona. Cuando la familia real española se instaló en Granada bajo la protección directa del rey-sultán de Marruecos, la formación de la República Ibérica fue un hecho natural para escapar del creciente caos por una España en desmembración. Es el recuerdo de una España deshecha como un azucarillo por el socialismo lo que explica la nueva victoria de los conservadores.”
¿Ficción? Esperen y vean. La Historia se vive hacia delante, pero sólo se sabe interpretarla mirándola hacia atrás. Y ya lo dijo Edmon Burke: “Para que el mal triunfe basta con que los hombres buenos no hagan nada”.
(In La Razón, Madrid, 10 de Outubro de 2005)
Elvas, 14 de marzo de 2040. Agencias.
“Por tercera vez consecutiva desde que se formara la República Ibérica entre Portugal y las regiones castellanas de la antigua España en el 2024, el Partido Popular Ibérico (PPI) ha vuelto a revalidar su mayoría absoluta en las urnas. Su líder, Carlos Joao Almeida será confirmado de nuevo como presidente de la república y contará como vicepresidente con Rodrigo Díez de Abellán. Ambos dirigentes han hecho hincapié durante toda su campaña en la necesidad de que el país mantenga firme sus lazos transatlánticos y siga disfrutando de los beneficios de formar parte del gran área económica atlántica establecida hace ya una década para integrar en un mercado único a las Américas y aquellos países europeos como Reino Unido, Irlanda, Noruega y Holanda, además de la República Ibérica, de vocación atlántica. La aplicación de políticas liberales y reformistas ha garantizado desde entonces un crecimiento constante para los miembros de esta zona económica, desarrollo que contrasta con la crisis instalada en la Unión Europea Continental.
El PPI ha sido la fuerza política dominante desde que Andalucía decidiera no incorporarse a la República a finales de 2023 y que su población, mayoritariamente compuesta por marroquíes, expresara en referéndum su deseo de convertirse en un territorio asociado al sultanato de Marruecos. De esa forma, una región que tradicionalmente votaba socialista favoreció la constitución de un área políticamente homogénea en el centro de la antigua España. Los socialistas de la anterior república de Portugal, que se opusieron ferozmente al plan de fusión con las regiones españolas que no deseaban seguir los pasos de Cataluña, el País Vasco y Galicia, fueron progresivamente abandonados por el electorado a favor de partidos de nuevo cuño de índole liberal o religiosos.
El reto más urgente del nuevo gobierno estriba en acelerar las negociaciones con Galicia, muy castigada económicamente e incapaz de salir de la crisis por sí misma, para su incorporación a la república, pero el más importante es hacer frente a la presión demográfica de la población norteafricana sobre su suelo. Los líderes del PPI ya han anunciado su compromiso con una política de inmigración selectiva que prime a aquellos ciudadanos provenientes de naciones con similar régimen de valores y que cuenten con las habilidades personales apropiadas al mercado laboral que los demanda. Así como el endurecimiento del proceso de nacionalización. Ser nacional de la República Ibérica debe ser producto de un compromiso activo, público y reiterado hacia el ordenamiento legal y el marco moral del país.
En el PPI recuerdan con amargura la transformación social de gran parte de Europa continental a causa de las grandes bolsas de emigrantes musulmanes que rechazaron en la gran crisis del 2010 todo los intentos de asimilación e integración y acabaron imponiendo la aplicación de su ley, la sharia, por encima del código civil y penal de los países de acogida. Tal y como, por otra parte, el gobierno socialista español aceptó para la comunidad musulmana de Ceuta y Melilla antes de anunciar que ya no formaban parte de España sino que se cedían a Marruecos. Conviene recordar que este proceso, donde los historiadores marcan el comienzo del fin de España, se realizó y fue posible por el clima político que entonces existente en el país, volcado en una reforma enmascarada de su marco constitucional y que a su vez comenzó en el 2006 con la aprobación del estatuto de Cataluña, cuando el gobierno central reconoció y admitió el derecho a que dicha región pasara a ser considerada una nación, en pié de igualdad a la misma España. De hecho, España dejó de ser una nación unitaria para convertirse en un marco amplio como nación de naciones. En el 2012, la nación catalana exigió contar con su propio Estado, al hilo de la ruptura de Bélgica y la aparición en ese país de dos estados autónomos, uno francófono y otro flamenco; y en el 2014 el País Vasco se convirtió de manera unilateral también en un Estado independiente. Ambos solicitarían formar parte de la Unión Europea y aunque lo lograrían con rapidez, durante su adhesión se produciría la ruptura interna de la UE motivada por quienes veían en el ingreso de Turquía un grave riesgo para su coherencia interna. El auge del Islam radical entre los emigrantes en Europa, cuyo primer brote fue el asesinato en Holanda de un director de cine poco conocido, Theo van Gogh, pero que se volvió más agresivo con el asalto a los principales museos, entre ellos el desaparecido El Prado, para destruir obras de arte que los imanes agitadores juzgaban contrarias al buen orden musulmán por mostrar desnudos, rompió el frágil consenso sobre el ser de Europa. Francia y Alemania, temerosos de suscitar mayor violencia por parte de sus poblaciones inmigrantes aceptaron que Europa perdiera sus señas de identidad y equipararon la sharia a su marco legal, a la vez que abrieron sus puertas a más emigrantes musulmanes. Es en este giro motivado por el impacto doméstico del Islam donde puede explicarse también los movimientos para abandonar el euro y la UE por parte de los más proatlánticos y la formación del área económica en esa zona. Cuando la familia real española se instaló en Granada bajo la protección directa del rey-sultán de Marruecos, la formación de la República Ibérica fue un hecho natural para escapar del creciente caos por una España en desmembración. Es el recuerdo de una España deshecha como un azucarillo por el socialismo lo que explica la nueva victoria de los conservadores.”
¿Ficción? Esperen y vean. La Historia se vive hacia delante, pero sólo se sabe interpretarla mirándola hacia atrás. Y ya lo dijo Edmon Burke: “Para que el mal triunfe basta con que los hombres buenos no hagan nada”.
(In La Razón, Madrid, 10 de Outubro de 2005)
domingo, dezembro 10, 2006
Era um riso no Chiado
CARTA DO CANADÁ
por Fernanda Leitão
Não me lembro como se formou aquele grupo de monárquicos com quem almocei, anos a fio, à quarta-feira, que se encontrava à porta da Brasileira. Tantos anos que um dia o Vasco Sampaio lembrou que fazíamos as bodas de prata de frequência no restaurante A Primavera, no Bairro Alto, o que veio a dar um almoço à porta fechada, servido por nós ao Jerónimo e à patroa, mailas moças que habitualmente nos serviam à mesa, numa comoção que o mar de garrafas tornou enorme ao tempo de uma sobremesa, rematada por discursos piegas de que foi vencedor um adido comercial sueco que, quase a chorar, considerou ser Portugal “o último reduto de ternura na Europa”. Atrapalhado mas teso, a cortar o passo à fraqueza, levantou-se o Conde de Fornos secamente: “Está bem, pronto, o que lá vai, lá vai. Nós nunca mais nos metemos noutra”. O riso salvou o restaurante de uma inundação.
O banqueiro dos almoços, que tanto podiam ser no Bairro Alto como no Ramboia de Alcântara ou no 31 da Armada, era o Conde do Lavradio, porque era ele quem, compondo o monóculo, fazia a divisão da conta por aqueles bicos todos, sem nunca dispensar uma observação atónita ao esvoaçar os olhos pelas garrafas abatidas: “Mas para que é que foi tanto pão?”.
Nunca atinámos com a resposta. Eramos um grupo nutrido de talassas que, sem doutrinas, entre um prato e outro, reduzia tudo às boas piadas, ao riso, à festa de sermos amigos e estarmos juntos. Até nos demos ao luxo de ter um republicano com lugar cativo à nossa mesa, o Dr. Joaquim Parro, para os dardos verbais de lado a lado se espanejarem sem ressentimento nem preconceito. Era uma perfeita rebalderia em que até o sossegado António José Sousa Tavares metia colherada.
Este grupo deu quatro embaixadores: Afonso Malheiro, Afonso de Castro, Sebastião Castelo Branco (Pombeiro) e António Pinto Machado. Que alegria era quando um deles vinha do estrangeiro e se juntava ao almoço! Era uma coisa tão certa que, já no Canadá, recebi um dia um cartão do Daniel Noronha Feio que assim rezava: “Os almoços das quartas são agora às segundas. Estás avisada para quando cá vieres”. Lembro-me de me ter dado pouco jeito essa mudança, porque à segunda-feira tinha eu outro almoço de monárquicos, mas esse na Sociedade de Geografia, e todo à séria, presidido pelo médico e historiador Mário Saraiva, onde muito aprendi com os seguidores de António Sardinha e José Pequito Rebelo. Assim o disse aos rapazes do Chiado quando fui a Lisboa, que gentilmente voltaram às quartas-feiras.
Desse grupo, culto e cheio de verve, mas modesto e saudável, já nos morreu o Daniel Noronha Feio, o Vasco Sampaio, o Gonçalo Mesquitela, o Salvador Lavradio, o José Hipólito Raposo e o Joaquim Parro. E agora morre-nos o António Pinto Machado.
Vi o António Pinto Machado pela última vez poucos dias antes de ele partir para Bruxelas. Fizemos-lhe um almoço de “até breve”. E porque ele me tinha pedido havia tempo uma moca de Rio Maior, levei-lha, embrulhada em papel de seda e laçarote, bruta mas envernizada, com o nome António em tachas amarelas. Encomendei ao Tio Abílio, de Rio Maior, que foi o inventor e o fornecedor dessa arma pitoresca quando o povo do centro do país se foi aos comunas como Santiago aos mouros, naquele tempo de PREC e estupidez. Tão contente que ficou o António! E tão triste que os amigos estão hoje!
por Fernanda Leitão
Não me lembro como se formou aquele grupo de monárquicos com quem almocei, anos a fio, à quarta-feira, que se encontrava à porta da Brasileira. Tantos anos que um dia o Vasco Sampaio lembrou que fazíamos as bodas de prata de frequência no restaurante A Primavera, no Bairro Alto, o que veio a dar um almoço à porta fechada, servido por nós ao Jerónimo e à patroa, mailas moças que habitualmente nos serviam à mesa, numa comoção que o mar de garrafas tornou enorme ao tempo de uma sobremesa, rematada por discursos piegas de que foi vencedor um adido comercial sueco que, quase a chorar, considerou ser Portugal “o último reduto de ternura na Europa”. Atrapalhado mas teso, a cortar o passo à fraqueza, levantou-se o Conde de Fornos secamente: “Está bem, pronto, o que lá vai, lá vai. Nós nunca mais nos metemos noutra”. O riso salvou o restaurante de uma inundação.
O banqueiro dos almoços, que tanto podiam ser no Bairro Alto como no Ramboia de Alcântara ou no 31 da Armada, era o Conde do Lavradio, porque era ele quem, compondo o monóculo, fazia a divisão da conta por aqueles bicos todos, sem nunca dispensar uma observação atónita ao esvoaçar os olhos pelas garrafas abatidas: “Mas para que é que foi tanto pão?”.
Nunca atinámos com a resposta. Eramos um grupo nutrido de talassas que, sem doutrinas, entre um prato e outro, reduzia tudo às boas piadas, ao riso, à festa de sermos amigos e estarmos juntos. Até nos demos ao luxo de ter um republicano com lugar cativo à nossa mesa, o Dr. Joaquim Parro, para os dardos verbais de lado a lado se espanejarem sem ressentimento nem preconceito. Era uma perfeita rebalderia em que até o sossegado António José Sousa Tavares metia colherada.
Este grupo deu quatro embaixadores: Afonso Malheiro, Afonso de Castro, Sebastião Castelo Branco (Pombeiro) e António Pinto Machado. Que alegria era quando um deles vinha do estrangeiro e se juntava ao almoço! Era uma coisa tão certa que, já no Canadá, recebi um dia um cartão do Daniel Noronha Feio que assim rezava: “Os almoços das quartas são agora às segundas. Estás avisada para quando cá vieres”. Lembro-me de me ter dado pouco jeito essa mudança, porque à segunda-feira tinha eu outro almoço de monárquicos, mas esse na Sociedade de Geografia, e todo à séria, presidido pelo médico e historiador Mário Saraiva, onde muito aprendi com os seguidores de António Sardinha e José Pequito Rebelo. Assim o disse aos rapazes do Chiado quando fui a Lisboa, que gentilmente voltaram às quartas-feiras.
Desse grupo, culto e cheio de verve, mas modesto e saudável, já nos morreu o Daniel Noronha Feio, o Vasco Sampaio, o Gonçalo Mesquitela, o Salvador Lavradio, o José Hipólito Raposo e o Joaquim Parro. E agora morre-nos o António Pinto Machado.
Vi o António Pinto Machado pela última vez poucos dias antes de ele partir para Bruxelas. Fizemos-lhe um almoço de “até breve”. E porque ele me tinha pedido havia tempo uma moca de Rio Maior, levei-lha, embrulhada em papel de seda e laçarote, bruta mas envernizada, com o nome António em tachas amarelas. Encomendei ao Tio Abílio, de Rio Maior, que foi o inventor e o fornecedor dessa arma pitoresca quando o povo do centro do país se foi aos comunas como Santiago aos mouros, naquele tempo de PREC e estupidez. Tão contente que ficou o António! E tão triste que os amigos estão hoje!
segunda-feira, dezembro 04, 2006
O Parlamentarismo em «As Farpas»
Unica Semper Avis inicia hoje a publicação de excertos de As Farpas de RAMALHO ORTIGÃO e EÇA DE QUEIROZ, CHRONICA MENSAL DA POLITICA DAS LETRAS E DOS COSTUMES.
A jornada vai ser longa, mas vale bem a pena encetar a caminhada, em prol da memória portuguesa, deturpada pelos politicantes que o Estado Novo nos deixou por herança.
Começaremos, naturalmente, pelo tema do dia: as virtudes do parlamentarismo. Para abrir a selecta, situemo-nos em 1873, com epígrafe de Proudhon:
Ironia, verdadeira liberdade! És tu que me livras da ambição do poder, da escravidão dos partidos, da veneração da rotina, do pedantismo das sciencias, da admiração das grandes personagens, das mystificações da politica, do fanatismo dos reformadores, da superstição d'este grande universo, e da adoração de mim mesmo.
P. J. PROUDHON
Tanta palavra dispendida, tanto tempo empregado, tanto dinheiro perdido, tantos suores, tantos gritos, tantos copos de agua desbaratados para se assentar nos termos em que o rei tem de cumprimentar o paiz e em quo o paiz tem de responder aos cumprimentos do rei!
Como se, não havendo principios nenhuns de politica interna que affirmar, não havendo nenhuns factos de politica externa que expender, o que um rei tem que dizer ao povo e o que o povo tem que responder ao rei podesse, sem o mais criminoso abuso das prolixidades rhetoricas, alargar-se d'estes termos.
Discurso da corôa: «Meus senhores, Deus lhes dê muitos bons dias!»
Resposta ao discurso da corôa: «Senhor! Deus lhe dê os mesmos!»
Tudo mais é emphatico, é ôco, é ridiculo - e é immoral.
* * *
Ha um mez inteiro que os srs. deputados, sob o pretexto de accordarem na collocação de um adverbio ou no significado de um adjectivo para a confecção de um periodo banal, se discutem a si proprios; chamam-se reciprocamente desordeiros, calumniadores e ineptos; e documentam e provam entre uns e outros, de partido para partido, que são effectivamente desordeiros, conspiradores, calumniadores e ineptos.
As galerias enchem-se. Enchem-se de uma multidão desoccupada e ociosa, que não vae á camara levada pelas curiosidades scientificas, nem pelos interesses patrioticos. Vae apenas disfructar os contendores, rir-se d'elles, apupal-os no fundo da sua consciencia, e - o que é peior que tudo - preverter-se e desmoralisar-se no contacto da corrupção. Vão vêr a maledicencia dilacerar as reputações, como as féras nos circos romanos dilaceravam os martyres, e aprender no exemplo dos novos gladiadores do decoro a desprezar a honra diante do insulto, assim como nas antigas luctas do gladio se aprendia a desprezar a vida diante da peleja.
Durante este mez as galerias do parlamento estiveram sempre cheias, segundo asseveram os jornaes. Encheram-as empregados publicos que desertaram as suas repartições, litteratos ambiciosos que abandonaram os seus livros, burguezes enfastiados que deixaram o seu trabalho, operarios em grève que foram aprender a discursar nos seus comicios, pretendentes de empregos publicos, que foram examinar os pôdres por onde poderão romper os seus empenhos. E toda esta multidão perigosa, que precisaria de ouvir palavras de moralisação, de trabalho, de dignidade, assiste durante um mez inteiro aos exercicios de uma oratoria rasteira, sem elevação moral, sem correcção artistica, cheia de arrebatamentos estudados ao espelho, de improvisos ensaiados em familia, de coleras sobreposse, de indignações requentadas, de despeitos fingidos. Depois da lucta os athletas, com os colleirinhos abatidos e sujos pelas distillações do suor e das tinturas indeleveis, apertam-se entre si as suas pobres mãos inoffensivas e inuteis, e fazem-se gestos amigaveis, surriadas de bom humôr, piscam-se o olho, deitam-se a lingua de fóra, riem todos, e saem juntos de braço dado, amigos e inimigos, como velhos rabulas amaveis e cynicos, que vão comer juntos o jantar que ganharam descompondo-se em serviço da parte, que ficou na cadeia.
E eis ahi no mais alto das instituições a escola publica em que o povo tem de aprender a ser digno e honrado!
A jornada vai ser longa, mas vale bem a pena encetar a caminhada, em prol da memória portuguesa, deturpada pelos politicantes que o Estado Novo nos deixou por herança.
Começaremos, naturalmente, pelo tema do dia: as virtudes do parlamentarismo. Para abrir a selecta, situemo-nos em 1873, com epígrafe de Proudhon:
Ironia, verdadeira liberdade! És tu que me livras da ambição do poder, da escravidão dos partidos, da veneração da rotina, do pedantismo das sciencias, da admiração das grandes personagens, das mystificações da politica, do fanatismo dos reformadores, da superstição d'este grande universo, e da adoração de mim mesmo.
P. J. PROUDHON
Tanta palavra dispendida, tanto tempo empregado, tanto dinheiro perdido, tantos suores, tantos gritos, tantos copos de agua desbaratados para se assentar nos termos em que o rei tem de cumprimentar o paiz e em quo o paiz tem de responder aos cumprimentos do rei!
Como se, não havendo principios nenhuns de politica interna que affirmar, não havendo nenhuns factos de politica externa que expender, o que um rei tem que dizer ao povo e o que o povo tem que responder ao rei podesse, sem o mais criminoso abuso das prolixidades rhetoricas, alargar-se d'estes termos.
Discurso da corôa: «Meus senhores, Deus lhes dê muitos bons dias!»
Resposta ao discurso da corôa: «Senhor! Deus lhe dê os mesmos!»
Tudo mais é emphatico, é ôco, é ridiculo - e é immoral.
* * *
Ha um mez inteiro que os srs. deputados, sob o pretexto de accordarem na collocação de um adverbio ou no significado de um adjectivo para a confecção de um periodo banal, se discutem a si proprios; chamam-se reciprocamente desordeiros, calumniadores e ineptos; e documentam e provam entre uns e outros, de partido para partido, que são effectivamente desordeiros, conspiradores, calumniadores e ineptos.
As galerias enchem-se. Enchem-se de uma multidão desoccupada e ociosa, que não vae á camara levada pelas curiosidades scientificas, nem pelos interesses patrioticos. Vae apenas disfructar os contendores, rir-se d'elles, apupal-os no fundo da sua consciencia, e - o que é peior que tudo - preverter-se e desmoralisar-se no contacto da corrupção. Vão vêr a maledicencia dilacerar as reputações, como as féras nos circos romanos dilaceravam os martyres, e aprender no exemplo dos novos gladiadores do decoro a desprezar a honra diante do insulto, assim como nas antigas luctas do gladio se aprendia a desprezar a vida diante da peleja.
Durante este mez as galerias do parlamento estiveram sempre cheias, segundo asseveram os jornaes. Encheram-as empregados publicos que desertaram as suas repartições, litteratos ambiciosos que abandonaram os seus livros, burguezes enfastiados que deixaram o seu trabalho, operarios em grève que foram aprender a discursar nos seus comicios, pretendentes de empregos publicos, que foram examinar os pôdres por onde poderão romper os seus empenhos. E toda esta multidão perigosa, que precisaria de ouvir palavras de moralisação, de trabalho, de dignidade, assiste durante um mez inteiro aos exercicios de uma oratoria rasteira, sem elevação moral, sem correcção artistica, cheia de arrebatamentos estudados ao espelho, de improvisos ensaiados em familia, de coleras sobreposse, de indignações requentadas, de despeitos fingidos. Depois da lucta os athletas, com os colleirinhos abatidos e sujos pelas distillações do suor e das tinturas indeleveis, apertam-se entre si as suas pobres mãos inoffensivas e inuteis, e fazem-se gestos amigaveis, surriadas de bom humôr, piscam-se o olho, deitam-se a lingua de fóra, riem todos, e saem juntos de braço dado, amigos e inimigos, como velhos rabulas amaveis e cynicos, que vão comer juntos o jantar que ganharam descompondo-se em serviço da parte, que ficou na cadeia.
E eis ahi no mais alto das instituições a escola publica em que o povo tem de aprender a ser digno e honrado!
terça-feira, novembro 28, 2006
A passeata militar
CARTA DO CANADÁ
por Fernanda Leitão
Recentemente, um grupo de militares andou a manifestar o seu descontentamento pelos vencimentos, promoções e outras razões práticas, na baixa de Lisboa. Uns fardados, outros por fardar, afirmaram que se tratava apenas de uma passeata – o que não convenceu ninguém nem contribuíu para a sua representatividade das Forças Armadas. Como em Portugal as pessoas que menos gostam de fardar-se são os militares e os padres, bastou haver naquele grupo um número não dispiciendo de fardados para a opinião pública concluir que era, de facto, demonstração hostil e de força. De penitência é que não era certamente...
A coisa passou-se perante a indiferença da população civil, o que não é dizer pouco num país que foi forjado, desde a primeira hora, por militares, frades, nobres e arraia miúda com desejo de se pôr independente de Castela-a-Falsa. Mas o tempo desgasta tudo e as coisas são o que são: depois da “descolonização exemplar”, como lhe chamou um burguês internacionalista, a população civil congelou o seu afecto pelos militares, já arrefecido pelo papel de pretorianos que desempenharam durante a ditadura salazarista. A televisão fez o resto. Quem é vai esquecer a “debandada de pé descalço”, como um historiador de esquerda chamou à tal descolonização, com militares a arrastarem a bandeira nacional, ou com ela debaixo do braço à laia de farrapo, com militares em cuecas, com militares que atiravam as armas (pagas pelo povo) pela borda fora das naus do regresso? Quem é que vai esquecer os juramentos de bandeira feitos com o punho fechado, os gangs de militares bandeados com revolucionários de vários países invadindo e ocupando as propriedades agrícolas, primeiro, e depois até prédios das grandes cidades, e até mesmo parques industriais? Quem consegue esquecer os gangs armados, comandados por um militar que não passa de um caso de polícia, responsáveis por assaltos a bancos, ataques à bomba e homicídios?
Tudo isto aconteceu sem que miliares tivessem saído à rua gritando sem medo: “não foi para isto que se fez o 25 de Abril”. Calaram-se. Ou foram para Espanha dar um espectáculo desconchavado de desorganização. Ou foram para o Brasil. Deixaram a resistência a cargo dos civis. Não exigiram, nem que fosse a murro, que justiça fosse feita e os traidores tivessem sido postos fora das fileiras. Pelo contrário, todos eles estão a receber melhores pensões do que o comum dos civis e têm todos os direitos e mais um.
Como nunca foi feita justiça, como está tudo nesta mistura nauseabunda, a população civil vira ostensivamente as costas aos militares. Ignora-os. Sabe, vagamente, que neste tempo de guerras um pouco por toda a parte, com as quais Portugal tem pouco ou nada a ver, os soldados vão de boa vontade para essas guerras ganhar a vida desse modo. É tudo. E tudo embrulhado no politicamente correcto da estafada civilização ocidental.
Desfazer esta mistura, este mal entendido, devia ser a causa primeira dos militares. Andar a fazer passeatas pela baixa, em desobediência clara ao governo civil e às chefias do estado maior das Forças Armadas, é mais uma prova de que têm razão os civis que, desde 1975, dizem que não foi para isto que se fez o 25 de Abril.
por Fernanda Leitão
Recentemente, um grupo de militares andou a manifestar o seu descontentamento pelos vencimentos, promoções e outras razões práticas, na baixa de Lisboa. Uns fardados, outros por fardar, afirmaram que se tratava apenas de uma passeata – o que não convenceu ninguém nem contribuíu para a sua representatividade das Forças Armadas. Como em Portugal as pessoas que menos gostam de fardar-se são os militares e os padres, bastou haver naquele grupo um número não dispiciendo de fardados para a opinião pública concluir que era, de facto, demonstração hostil e de força. De penitência é que não era certamente...
A coisa passou-se perante a indiferença da população civil, o que não é dizer pouco num país que foi forjado, desde a primeira hora, por militares, frades, nobres e arraia miúda com desejo de se pôr independente de Castela-a-Falsa. Mas o tempo desgasta tudo e as coisas são o que são: depois da “descolonização exemplar”, como lhe chamou um burguês internacionalista, a população civil congelou o seu afecto pelos militares, já arrefecido pelo papel de pretorianos que desempenharam durante a ditadura salazarista. A televisão fez o resto. Quem é vai esquecer a “debandada de pé descalço”, como um historiador de esquerda chamou à tal descolonização, com militares a arrastarem a bandeira nacional, ou com ela debaixo do braço à laia de farrapo, com militares em cuecas, com militares que atiravam as armas (pagas pelo povo) pela borda fora das naus do regresso? Quem é que vai esquecer os juramentos de bandeira feitos com o punho fechado, os gangs de militares bandeados com revolucionários de vários países invadindo e ocupando as propriedades agrícolas, primeiro, e depois até prédios das grandes cidades, e até mesmo parques industriais? Quem consegue esquecer os gangs armados, comandados por um militar que não passa de um caso de polícia, responsáveis por assaltos a bancos, ataques à bomba e homicídios?
Tudo isto aconteceu sem que miliares tivessem saído à rua gritando sem medo: “não foi para isto que se fez o 25 de Abril”. Calaram-se. Ou foram para Espanha dar um espectáculo desconchavado de desorganização. Ou foram para o Brasil. Deixaram a resistência a cargo dos civis. Não exigiram, nem que fosse a murro, que justiça fosse feita e os traidores tivessem sido postos fora das fileiras. Pelo contrário, todos eles estão a receber melhores pensões do que o comum dos civis e têm todos os direitos e mais um.
Como nunca foi feita justiça, como está tudo nesta mistura nauseabunda, a população civil vira ostensivamente as costas aos militares. Ignora-os. Sabe, vagamente, que neste tempo de guerras um pouco por toda a parte, com as quais Portugal tem pouco ou nada a ver, os soldados vão de boa vontade para essas guerras ganhar a vida desse modo. É tudo. E tudo embrulhado no politicamente correcto da estafada civilização ocidental.
Desfazer esta mistura, este mal entendido, devia ser a causa primeira dos militares. Andar a fazer passeatas pela baixa, em desobediência clara ao governo civil e às chefias do estado maior das Forças Armadas, é mais uma prova de que têm razão os civis que, desde 1975, dizem que não foi para isto que se fez o 25 de Abril.
Anotações às palavras de Manuel Alegre
As palavras de apresentação do livro D. Duarte e a democracia – uma biografia portuguesa de Mendo Castro Henriques, por Manuel Alegre, estão desde hoje editadas em Unica Semper Avis com algumas anotações e referências de José Manuel Quintas. A importância das palavras proferidas por Manuel Alegre, justifica que sejam tomadas como ponto de partida para leituras e reflexões aprofundadas sobre alguns temas:
- a herança dos «Vencidos da Vida» e o Integralismo Lusitano;
- as razões e o conteúdo das críticas ao parlamentarismo durante a Monarquia constitucional;
- a recusa do Estado Novo por parte do Integralismo Lusitano, em contraste com a adesão do grupo da Acção Realista, dirigido por Alfredo Pimenta;
- a Monarquia e a Democracia, hoje, à luz do neo-integralismo.
- a herança dos «Vencidos da Vida» e o Integralismo Lusitano;
- as razões e o conteúdo das críticas ao parlamentarismo durante a Monarquia constitucional;
- a recusa do Estado Novo por parte do Integralismo Lusitano, em contraste com a adesão do grupo da Acção Realista, dirigido por Alfredo Pimenta;
- a Monarquia e a Democracia, hoje, à luz do neo-integralismo.
A universidade entre Bolonha e o MIT
por José Medeiros Ferreira (*)
Com o fim da última legislatura, em Março de 2005, regressei plenamente à vida universitária. Não que a tivesse abandonado por completo durante os dez anos em que fui deputado nesta fase política. A título gracioso (uma preciosidade pré-capitalista amparada na mais moderna legislação...) mantive, durante vários anos, cursos na licenciatura de Ciência Política e Relações Internacionais e no mestrado de História, na Universidade Nova de Lisboa, e ainda orientei seminários numa post-graduação na Universidade dos Açores. Porém, desde então pude aperceber-me melhor das transformações que atravessam estas instituições tão estruturantes na vida das sociedades como aquelas outras que todos referem com respeito.
A minha primeira impressão neste regresso é a de estar a assistir a um momento de perplexidade nas universidades portuguesas. E inevitavelmente comparo com a firmeza com que a Universidade de Genebra se adaptou às consequências do Maio de 1968, que sacudiu o ensino superior europeu de baixo para cima, enquanto Bolonha pretende orientá-lo de cima para baixo...
Aliás, até se poderia periodizar a história das universidades europeias entre Maio de 1968 e o actual Processo de Bolonha. O que pode haver de útil em Bolonha terá de ser encontrado do lado da qualidade, da comparação dos estudos feitos, da mobilidade permitida e facilitada de estudantes... e de professores.
Ora, a burocracia está a tomar conta do processo. A uniformização, atentatória da mais elementar autonomia universitária, apossou-se da teoria dos três ciclos integrados, sendo que o primeiro se assemelha de mais a um propedêutico prolongado, e o segundo, que corresponde ao mestrado, pouco espaço e tempo disponibiliza para a investigação e a dissertação.
A tutoria dos docentes tornou-se a grande aquisição deste modelo e apenas com um senão: os cursos em vez de diminuírem o número de alunos a serem "tutelados" aumentam- -no em desproporção. A tutoria de Bolonha requer mais docentes universitários, não menos. Temo que, em Portugal, Bolonha possa ser antes o pretexto para despedir.
A passagem das licenciaturas de quatro para três anos, nos cursos de ciências sociais, está a empurrar algumas cadeiras para fora dos curricula. Por exemplo, em História, essa compressão está de novo a reduzir o ensino e a investigação em História Contemporânea, uma das áreas mais procuradas nos últimos 20 anos pelos estudantes. Percebe-se, antes era inexistente... Toda a esperança de uma universidade portuguesa activa na investigação e num ensino renovado passa praticamente para o último ciclo, o terceiro, aquele que dará origem ao grau de doutor, caso os docentes não desfaleçam entretanto na via-sacra de tanta estação.
Este é pelo menos o resultado mais à vista desta primeira subordinação apressada das universidades portuguesas ao comando indicativo das recomendações europeias inseridas no Processo de Bolonha e para cuja execução positiva e indutora de qualidade seriam precisos mais recursos e não cortes simultâneos no orçamento. Querer adaptar o ensino superior às recomendações de Bolonha num momento de cortes financeiros é um desafio lançado às universidade portuguesas que assim vão passar provavelmente por um mau momento.
É possível que, ao nível das faculdades e dos institutos técnicos e politécnicos, os acordos passados com instituições alheadas de regras de uniformização e de compatibilização como o MIT [Massachusetts Institute of Technology] venham a induzir uma inovação científica pioneira nos anais de instituições similares (e bem precisados estamos de que isso aconteça), mas dá-me a impressão que poderá haver um hiato entre o que se procura em Bolonha e o que se procura no MIT. No entanto, declaro-me desde já partidário da diversidade das influências externas, de onde muita inovação será de esperar nos próximos tempos. Mas sem se estabelecer qualquer relação bastarda de colonizado e de colonizador.
As universidades portuguesas estão assim sob fogo cruzado. A indução do Processo de Bolonha, numa versão uniforme e burocrata, e a ciência aplicada que há-de escorrer dos acordos com o MIT para as nossas oficinas superiores colocam o nosso ensino numa forte dependência exterior estratégico-científica.
Acresce que com o corte das verbas orçamentais encontram-se as universidades abatidas na sua autonomia e uniformidade.
O que se espera então da avaliação ao estado de saúde do doente à saída do bloco operatório, onde lhe enxertaram uns órgãos de Bolonha e outros do MIT?
* Professor universitário
jmedeirosf@clix.pt
in Diário de Notícias, 28 de Novembro de 2006.
Com o fim da última legislatura, em Março de 2005, regressei plenamente à vida universitária. Não que a tivesse abandonado por completo durante os dez anos em que fui deputado nesta fase política. A título gracioso (uma preciosidade pré-capitalista amparada na mais moderna legislação...) mantive, durante vários anos, cursos na licenciatura de Ciência Política e Relações Internacionais e no mestrado de História, na Universidade Nova de Lisboa, e ainda orientei seminários numa post-graduação na Universidade dos Açores. Porém, desde então pude aperceber-me melhor das transformações que atravessam estas instituições tão estruturantes na vida das sociedades como aquelas outras que todos referem com respeito.
A minha primeira impressão neste regresso é a de estar a assistir a um momento de perplexidade nas universidades portuguesas. E inevitavelmente comparo com a firmeza com que a Universidade de Genebra se adaptou às consequências do Maio de 1968, que sacudiu o ensino superior europeu de baixo para cima, enquanto Bolonha pretende orientá-lo de cima para baixo...
Aliás, até se poderia periodizar a história das universidades europeias entre Maio de 1968 e o actual Processo de Bolonha. O que pode haver de útil em Bolonha terá de ser encontrado do lado da qualidade, da comparação dos estudos feitos, da mobilidade permitida e facilitada de estudantes... e de professores.
Ora, a burocracia está a tomar conta do processo. A uniformização, atentatória da mais elementar autonomia universitária, apossou-se da teoria dos três ciclos integrados, sendo que o primeiro se assemelha de mais a um propedêutico prolongado, e o segundo, que corresponde ao mestrado, pouco espaço e tempo disponibiliza para a investigação e a dissertação.
A tutoria dos docentes tornou-se a grande aquisição deste modelo e apenas com um senão: os cursos em vez de diminuírem o número de alunos a serem "tutelados" aumentam- -no em desproporção. A tutoria de Bolonha requer mais docentes universitários, não menos. Temo que, em Portugal, Bolonha possa ser antes o pretexto para despedir.
A passagem das licenciaturas de quatro para três anos, nos cursos de ciências sociais, está a empurrar algumas cadeiras para fora dos curricula. Por exemplo, em História, essa compressão está de novo a reduzir o ensino e a investigação em História Contemporânea, uma das áreas mais procuradas nos últimos 20 anos pelos estudantes. Percebe-se, antes era inexistente... Toda a esperança de uma universidade portuguesa activa na investigação e num ensino renovado passa praticamente para o último ciclo, o terceiro, aquele que dará origem ao grau de doutor, caso os docentes não desfaleçam entretanto na via-sacra de tanta estação.
Este é pelo menos o resultado mais à vista desta primeira subordinação apressada das universidades portuguesas ao comando indicativo das recomendações europeias inseridas no Processo de Bolonha e para cuja execução positiva e indutora de qualidade seriam precisos mais recursos e não cortes simultâneos no orçamento. Querer adaptar o ensino superior às recomendações de Bolonha num momento de cortes financeiros é um desafio lançado às universidade portuguesas que assim vão passar provavelmente por um mau momento.
É possível que, ao nível das faculdades e dos institutos técnicos e politécnicos, os acordos passados com instituições alheadas de regras de uniformização e de compatibilização como o MIT [Massachusetts Institute of Technology] venham a induzir uma inovação científica pioneira nos anais de instituições similares (e bem precisados estamos de que isso aconteça), mas dá-me a impressão que poderá haver um hiato entre o que se procura em Bolonha e o que se procura no MIT. No entanto, declaro-me desde já partidário da diversidade das influências externas, de onde muita inovação será de esperar nos próximos tempos. Mas sem se estabelecer qualquer relação bastarda de colonizado e de colonizador.
As universidades portuguesas estão assim sob fogo cruzado. A indução do Processo de Bolonha, numa versão uniforme e burocrata, e a ciência aplicada que há-de escorrer dos acordos com o MIT para as nossas oficinas superiores colocam o nosso ensino numa forte dependência exterior estratégico-científica.
Acresce que com o corte das verbas orçamentais encontram-se as universidades abatidas na sua autonomia e uniformidade.
O que se espera então da avaliação ao estado de saúde do doente à saída do bloco operatório, onde lhe enxertaram uns órgãos de Bolonha e outros do MIT?
* Professor universitário
jmedeirosf@clix.pt
in Diário de Notícias, 28 de Novembro de 2006.
segunda-feira, novembro 27, 2006
O gesto criador
por Teresa Maria Martins de Carvalho
Provavelmente, o registo do gesto criador mais antigo que se conhece, serão essas palmas das mãos impressas, de propósito, na argila húmida da parede, na caverna pré-histórica de Pech-Merle, em França. Além do espanto e do prazer, bem evidentes na descoberta do poder da mão, movendo-se na ductibilidade da matéria, macia e manejável, podemos ver, também já presentes, outros elementos que identificam o gesto criador como tal. Em primeiro lugar a liberdade, projecto seguro que possibilita ao autor do gesto a moldagem e a gravação, que lhe prepara a apropriação do símbolo e da transfiguração, que lhe vai provocar o sair de si dono de si. Em segundo lugar, o reconhecimento súbito de algo que existe e se desenvolve a partir do espaço redesenhado, algo ainda indefinível mas a que permanece ligado como a um balbuceio de religião. Qualquer criança, no Jardim Infantil, experimenta este gozo imenso e irreprimível de pintar com os dedos. Qualquer adolescente dificilmente resiste à superfície branca e vazia da parede, apelo premente a que nela escreva os seus “tags” e desenhe os seus “graffitti”, ingénua, precária e imortal afirmação de si próprio. As circunstâncias também fazem surgir o artista…
É óbvio que, antes e depois das mãos impressas, terão existido outros gestos criadores de que não há registo mas que facilmente se adivinham, os enfeites, os colares, os brincos, a pintura do corpo, o canto, a dança. Se o ritmo, inerente a qualquer jogo, vaivém encantatório, abolidor do tempo e efabulador de eternidade, tem presença forte e fundadora no canto e na dança, não é muito visível nos desenhos pré-históricos. Talvez aqui o ritmo lúdico se apresente na insistência do gesto criador, que sempre acaba e sempre recomeça. Não admira assim que seja no âmbito do primeiro gesto criador, sinal inequívoco da presença do humano, que se venha inserir o desejo de contacto com o sobrenatural e se cumpra o voto à divindade, voto de esconjuro ou de prece.
Nas pinturas rupestres nota-se, com surpresa, o aproveitamento astucioso das fractuosidades e saliências de pedra para dar volume às figurações dos animais. Um olhar que vê o que lá não está mas que lá está potencialmente e que, por isso, será desenhado. É o mesmo olhar que vê castelos nas nuvens e serenas paisagens nas manchas de parede. Ouçamos a este respeito Leonardo da Vinci: “…assim o nosso Botticelli dizia que (o estudo da paisagem) era um estudo vão, porque era suficiente passar sobre uma parede com uma esponja embebida em várias cores para que ela lá deixe manchas onde se pode ver uma bela paisagem. É bem verdade que se pode ver numa mancha diferentes composições de coisas que lá se quiserem procurar, cabeças humanas, diversos animais, batalhas, escolhos, mares, nuvens, bosques, etc.”.
Assim se compreende que para Leonardo a pintura seja “coisa mental”. Tudo o que o artista conhece visualmente é conservado na sua mente, de modo natural, espontâneo, por vezes quase doloroso de tão deslumbrado. Provido da visão e do tacto, do olhar e da mão, conseguirá depois desdobrar esse outro mundo que em si nasce. Estas duas faculdades juntas é que fazem a especificidade do artista, o poder raro de expressar o que a natureza e a vida lhe imprimem na sensibilidade e na imaginação. Não é só ser capaz de ver mas também de inscrever, descrever, rescrever…
Esta transcrição facilita aos outros homens o acesso a essa visão porque, no fundo, todos possuem capacidade para a receber e entender. Daí o apreço permanente e universal pela obra de arte, que transforma todos em visionários. Mas apesar desta primazia singular – ele que vê antes de nós – e apesar deste serviço inegável, o artista representa apenas, na comunidade, o “habilidoso”. Nunca será um “conductor” social. Uma vez completada a obra de arte, ela pertence a toda a gente porque todos nela se reconhecem e o artista é como que despojado da sua obra. Terá de recomeçar para sobreviver.
Parece injusta esta domesticação do artista pela comunidade, onde não será nunca um agente mágico, recriador de mundos, com poder e domínio sobre aqueles que deslumbra e extasia com as suas habilidades. Não. Remetido constantemente à sua condição humana terá assim de prover à sua subsistência, como qualquer outro homem. Quando necessitar de tempo para o exercício do seu mister, alguém terá de o sustentar e a própria comunidade o fará, se isso lhe for útil. De outro modo tornar-se-á comerciante de si próprio. Pedinte. O que faz não é imediatamente útil e, sendo supérfluo, está sujeito às boas disposições e boas finanças dos outros, seus admiradores. O artista, não é por si só poderoso e influente com estatuto social elevado, pelo menos ao nível da sua importância na cultura. Criador de espaços de liberdade será sempre inconveniente para todo o poder. Ou subserviente. Compreende-se assim a permanente penúria de dinheiro em que vive, dependente de quem lhe quiser pagar. Comprar-lhe ou comprá-lo. “Avida dollars”. Este anagrama das letras do nome de Salvador Dali, inventado por André Breton, foi adoptado pelo pintor, num momento de lucidez e troça de si próprio, e torna patente esta situação. O artista é um trabalhador como outro qualquer, afinal. Ser visionário, habitante de dois mundos, não faz dele, automaticamente, um ser especial. As dificuldades sociais e familiares do artista são geralmente rodeadas de inquietação e de irritação, obrigando-o a descer do seu etéreo mundo para resolver fúteis ou graves questões domésticas para as quais não tem nem saber nem perspicácia, sofrendo desgaste inútil na sua, por vezes esquiva, inspiração.
A aprendizagem firma-se na “mimesis”, na imitação. Foi ela, aliás, que tornou possível – que torna possível! – a humanização, a par da linguagem, da agricultura, da tecnologia. O gesto criador é também, por isso, até certo ponto, copiável e recriável e na sucessão temporal dos artistas, copiando-se uns aos outros, aprendendo uns dos outros o modo de olhar e de fazer, mas ultrapassando as maneiras e subtilmente inovando na invenção de estilos próprios, eles transformam-se assim também em guardadores de segredos e de truques, de proporções e receitas, que irão transmitir o artesão ao aprendiz, o mestre ao discípulo. E estas duplas milenárias, atravessarão os séculos, vagueando de comunidade em comunidade, chamadas de terra em terra, oferecendo os seus préstimos de país para país, ou assentando, quando famosas, de “atelier” em “atelier” deixando sempre atrás de si rastos reconhecíveis. Muitos destes artistas são anónimos, como por exemplo o Mestre do Sardoal, que só tem por nome o nome da terra onde trabalhou. Outros, no favor de tempos mais propícios à individualização pessoal, marcaram com a sua forte personalidade espaço e tempo definidos, marcos na memória, que suscitam a admiração e respeito das gerações seguintes, nomes que se decoram e se veneram, obras que nos subjugam e contentam. Esta vagabundagem do artista é confirmada com muita frequência nas voltas da História. Quando D. Afonso Henriques pediu a S. Bernardo alguns monges para o arroteio das terras portuguesas, recentemente conquistadas aos mouros e vítimas de ermamento e destruição, os cistercienses, que vieram, construíram em Alcobaça um mosteiro em tudo idêntico ao de Claraval, implante desajustado, que viu à sua volta continuar a construir-se o românico. Só a partir de D. Afonso III, rei que de França veio, se enraizou o gótico, em 1250. No séc. XVI, todo o vale do Mondego foi enxameado pela estatuária feita ao jeito de João de Ruão, mestre em Coimbra da pedra lioz. A passagem em Portugal do pintor flamengo Jan Van Eyck, chamado por D. Afonso V, é decisiva para a execução, por Nuno Gonçalves, dos Painéis de S. Vicente. A estadia de Nazoni e Ludovice no séc. XVIII é fácil e agradavelmente assinalável… São bem leonardescos os Anjos que assistem ao Baptismo de Jesus, obra oriunda do atelier de Verrochio, como são da mão de Van Dyck muito do que Rubens pintou… Depois há saltos de séculos, misteriosos e inexplicáveis como o sorriso dos efebos na Grécia do séc. VII, que desaparece no helenismo mas resistiu nos Budas destruídos do Afeganistão, reaparece no Anjo da Anunciação da Catedral de Reims e imortaliza-se em duas telas de Leonardo da Vinci. Os nomes famosos de Zeuxis e Fídias sobrevoam a multidão dos geniais escravos gregos que, anonimamente, copiaram e recopiaram toda a arte helénica. A arte bizantina teve mais sorte. Depois de séculos de mestres e discípulos, de artesãos e aprendizes repetindo e melhorando modelos, numa euforia exaltante de cores e brilho, epifania de eternidade, só comparável às criações da arte egípcia, arte tumular que é resplendor e milagre, um nome se inscreve finalmente, no séc. XV, Andrei Rublov, que ilumina para sempre todo o conjunto greco-russo-bizantino…
No séc. XIV, na Itália, os artistas já são gente individualizada, ganhando fama própria, e o que fazem vai ao encontro de desejo da multidão, essa mesma que arrebata a Madonna Ruscelai do “atelier” de Cimabue assim que este finda a obra, e a leva em procissão até à Igreja para onde se destinava. Igual multidão entusiasta invadia a Igreja del Carmine, em Florença, para aplaudir Masaccio, esse “avatar” de Giotto, precursor genial como ele, e que, no alto do andaime pintava os frescos da Capela Brancacci, esses frescos que, depois da morte prematura do artista, permaneceriam como escola para o olhar dos futuros pintores renascentistas que os iam admirar. O gesto criador torna-se científico. “Che bella è la perspectiva!” exclamava Ucello. É já vincadamente pessoal e encarna agora o estilo próprio de cada artista. No entanto, não deixamos por isso de encadear todos os artistas uns nos outros, delimitando épocas, caracterizando escolas, deslindando influências, como se todos fossem comunicantes, diferentes mas iguais, pertencentes ao mesmo destino, detentores do mesmo mistério. Valerá ainda perguntar em que se reconhecem? O gesto criador é semelhante em todos eles e o que fazem tanto atrai os poderosos e mecenas como o povo miúdo. Se voltarmos à pré-história, vemos que ao lado das fantásticas visões dos animais, gravadas e pintadas nas paredes das cavernas, com intenções nitidamente religiosas ou mágicas, e portanto com utilidade manifesta, aparece-nos humildemente a arte de olaria onde o gesto criador que afeiçoa os vasos, neles acrescenta incisões geométricas, gratuitamente… Para os tornar mais valiosos, mais belos? A irrupção da beleza neste contexto primitivo não deixa de nos espantar. Todos julgamos saber o que é a beleza. Nem é preciso explicar. Se é que ela se explica… Prisioneira da emoção vê-se acomodada no reino da intuição, e no mais profundo sentido de viver, reino que o artista percorre, escolhido e predestinado para ouvir o canto das esferas estelares, sentir nos dedos as regras de desconhecida harmonia, exigente e branca, que lhe habita e assombra o corpo e a alma. Mas porquê aplicá-la ou descobri-la em objectos de uso comum? Que sentido faz? Parece-nos inexplicável esta identificação primordial, esta justaposição do artista e do artesão, habituados como estamos a separações qualitativas, porventura incorrectas.
A “poesis”, a criação, e a “teknê”, a realização dessa criação, não têm que andar separadas? O gesto criador é, ao mesmo tempo, “poesis” e “teknê”, e o domínio da beleza é o seu jardim privado. Houve alguns séculos de sereno compromisso em que os artistas se tornaram obreiros principais das maravilhas que os poderosos encomendavam para os seus palácios, as instituições religiosas ou cívicas para as suas Igrejas e devoções. O cânon estético era praticamente o mesmo, promovido pelo génio dos artistas do Renascimento que tinham ido recuperar, à Antiguidade, a medida do corpo humano. Mas não era só o consenso geral sobre a obrigatoriedade da figuração humana condigna e correcta, sobre a transcrição de paisagens naturais, ou os esforços prodigiosos para obter os melhores efeitos e forçar o resplandecer da beleza inatingível, a atingir e atingida. Os motivos eram sobretudo religiosos, sobrepujando-se aos retratos, às paisagens, às cenas domésticas ou aos mitos pagãos. O exagero deste compromisso desaguaria num formalismo e numa retórica exuberantes que inundaram literalmente a civilização ocidental. Nada nem ninguém ficou imune. Contudo, este formalismo dominador acabaria por perder completamente de vista o desígnio espiritual e religioso para o qual as obras tinham sido encomendadas. O delírio da pura forma, o predomínio do enfeite e do arre bicado, leve e gentil, aparentemente inofensivo, levaram o gesto criador a basear-se na perícia, no artificialismo do decorativo e do académico, numa ausência quase total da força simbólica do religioso ou do assombro pela presença do espiritual. Era velado pela emoção estética, epidérmica e sensual e, no fim e ao cabo, muito pouco embebido no mistério cristão.
O romantismo acentuou esta saturação do humano e do tema religioso, que herdara do barroco, fazendo renascer os ideais religiosos medievais, reproduzidos fielmente em obras de iluminada pieguice. E de repente aconteceu, com estrondo e violência, aquilo a que Ortega y Gasset chamou, num estudo de 1925, a “deshumanização da arte”. De modo abrupto, destruidor e provocatório, um punhado de artistas impôs aos olhos atónitos de um público estremunhado, um gesto criador “intranscendente”, esvaziado de todo o patético humano, liberto da linhagem dos mestres da tradição, e fazendo-o procurar directamente na raiz do pensamento a génese da cor, do movimento e do volume e aplicando à visão da realidade uma grelha de desconstrução que a desarticula, a escrutina e a desfaz em pedaços ou a explica em minudências matemáticas ou em linhas de força. Este processo é patente em Vieira da Silva, Pomar ou José Guimarães.
O impacto provocado pela intromissão destes artistas transgressores que buscam algo de verdadeiro, de fundo, de sólido para além da convenção, foi muito grande, tão grande que ainda dura há quase cem anos porque, como também viu Ortega na altura, implica a “impossibilidade de voltar atrás”. Picasso é o protótipo desta gente. Ele é o invasor vertical [3] espantosamente livre, iniciando uma visão primigénia da arte sem o peso de raízes condicionantes. "Não mais se celebra o homem vivo. “ A glória de Deus é o homem vivo, dizia, no séc. III, Santo Irineu. Assim, também se negará a glória festiva de Deus e tudo o que se erguer contra o homem será blasfémia.
A conquista da velocidade imprimiu ao mundo ocidental um ritmo de corrida, de fuga, de permanente precipitação para a frente, de contínua mudança, anseio devorador de novidades, com a colaboração eficiente das técnicas de “marketing”, imperiosa máquina que nos domina o comportamento, fornecendo-nos constantemente o alimento e o apetite. Mas, na refrega do atropelamento de escolas e de estilos, ninguém fica ferido ou sequer magoado, por maior o escândalo e a sempre mais sugestiva provocação. Nem mesmo será banido o sinistro Damian Hirst, com os seus cadáveres em formol. A sociedade de consumo, que também somos, encarrega-se de neutralizar estes pretensos gestos blasfemos, transformando-os rapidamente em mercadoria vendável, com cotação no mercado, na moda e na vaidade social. E dando a ganhar milhares de contos a estes vândalos vencedores.
Dir-se-ia que é a sociedade que se purifica a si mesma, neutralizando ataques e blasfémias, inserindo-os no seu simples e contínuo caminhar, anestesiando-se na pressa do sempre para a frente. “Homo viator”. Quem foi que disse que “nós não somos deste mundo” (Ruy Cinatti)? Condição por excelência do homem, portanto, este andamento, esta sociedade migrante, transeunte. “Opportet transire”, adverte Mestre Eckart. Não morre a esperança, portanto.
Este acontecimento, apresentado com frieza e vigor, entrou em aceleração, apanhado pela força do tempo e multiplicou-se, encarnando no cubismo, no dada, no futurismo, no surrealismo, na arte abstracta, na “pop art” que faz agora cinquenta anos e em que o cinismo de Andy Warhol entronizou para a eternidade a lata de sopa da Campbell. “Pop art”, e porque não? Ela pertence à visão correcta da paisagem a que pertencemos, em que nos encontramos envolvidos em objectos e electrodomésticos. Já não vivemos na natureza que hoje é guardada em parques naturais que se visitam em excursões pedagógicas e higiénicas. Vivemos quase todos encaixados na paisagem urbana, em cidades que apagaram as estrelas.
Neste correr esforçado, há pouco tempo para viver que se torna curto, concentrado, juvenil. Já tem sido frequentemente apontada e até estudada a actual infantilização da sociedade, a que assistimos com ansiedade e receio. As inscrições infantis de Klee ou de Miró, as construções aéreas e móveis de Calder seriam já os sinais precursores desta cidade cujo rei é uma criança. O que são os “happennings” e as instalações senão brincadeiras efémeras, passageiras? “I want to die young”, canta o vocalista da banda. E as divertidas máquinas de Tanguely, denúncia vigorosa do mercantilismo em arte ou a chalaça embrulhadora de Christo, que tenta salvar o olhar do excesso de imagens, multiplicadas pela fotografia, pelo cinema, pelos media, despertam um riso adolescente, nervoso e irresponsável, no gozo do monstruoso ou do grotesco (Bacon, Botero e Paula Rego), arrepiado com o gesto do arremesso de Pollock ou de Mathieu, que é a negação do projecto, instituída em obra de arte.
É curioso tentar seguir a trajectória do traço, do desenho contornado, com a cor a ele submetida. Nasce da técnica exigida pelo fresco e pela iluminura mas, mal se instala na Itália a pintura a óleo, ele desparece. E das mãos prodigiosas de Ticiano, de Velásquez, de Turner, dos impressionistas com apenas alguns toques de pincel, se abre e se espraia a criação do espaço evanescente e do ar circulante. Mas a invenção da gravura instalam-no na ilustração onde terá vida longa, sobretudo na Arte Nova com Beardsley, Mucha, Klimt. Depois Matisse, Léger, Almada Negreiros. Finalmente o cartaz, a banda desenhada, Tintim. Sorte para as criancinhas, dos 7 aos 77… “Vaidade das vaidades, tudo é vaidade e correr atrás do vento” adverte Quélec. “In extremis, coligam-se, em deslumbrante colaboração de refúgio, o teatro, a dança, a música, o vídeo, o cinema, produzindo espectáculos – ou conteúdos - para uma sociedade em que tudo se tornou espectáculo que é, por definição, temporário e frágil, circense e passageiro. Testemunhas urgentes do fenómeno social, encobertas pelo próprio excesso das suas recusas e propostas, teme-se que o fragor das criações destes artistas transgressores os não deixe ouvir ou entender. Era bom que os tomássemos a sério por uma vez e escutássemos a imensa dor que os move, num enredo de perplexidade e de morte. Mas de que serve o conselho? A velocidade é tal que neste momento talvez tudo o que se disse atrás já tenha excedido o prazo de validade. Peço desculpa.
BIBLIOGRAFIA
CARVALHO, Teresa Martins de - O gesto criador – Esboço para um estudo de criação artística (dactilografado) Faculdade de Letras - Departamento de Filosofia, Lisboa, 1983
FORMOSINHO, Sebastião J. e BRANCO, J. Oliveira – O brotar da criação. Universidade Católica Editora, Lisboa, Abril 1999
FREITAS, Lima de – Voz Visível . Edição do Autor, Lisboa 1971
GASSET, José Ortega y – La deshumanización del arte Ed. Revista de Ocidente, Madrid, 5ª ed., 1958
_________
[1] Leonardo da Vinci in Traité de peinture, pág. 94
[2] Ortega y Gasset in La Deshumanización del arte, pág. 53
[3] Lima de Freitas in Voz Visível, pág. 93
Provavelmente, o registo do gesto criador mais antigo que se conhece, serão essas palmas das mãos impressas, de propósito, na argila húmida da parede, na caverna pré-histórica de Pech-Merle, em França. Além do espanto e do prazer, bem evidentes na descoberta do poder da mão, movendo-se na ductibilidade da matéria, macia e manejável, podemos ver, também já presentes, outros elementos que identificam o gesto criador como tal. Em primeiro lugar a liberdade, projecto seguro que possibilita ao autor do gesto a moldagem e a gravação, que lhe prepara a apropriação do símbolo e da transfiguração, que lhe vai provocar o sair de si dono de si. Em segundo lugar, o reconhecimento súbito de algo que existe e se desenvolve a partir do espaço redesenhado, algo ainda indefinível mas a que permanece ligado como a um balbuceio de religião. Qualquer criança, no Jardim Infantil, experimenta este gozo imenso e irreprimível de pintar com os dedos. Qualquer adolescente dificilmente resiste à superfície branca e vazia da parede, apelo premente a que nela escreva os seus “tags” e desenhe os seus “graffitti”, ingénua, precária e imortal afirmação de si próprio. As circunstâncias também fazem surgir o artista…
É óbvio que, antes e depois das mãos impressas, terão existido outros gestos criadores de que não há registo mas que facilmente se adivinham, os enfeites, os colares, os brincos, a pintura do corpo, o canto, a dança. Se o ritmo, inerente a qualquer jogo, vaivém encantatório, abolidor do tempo e efabulador de eternidade, tem presença forte e fundadora no canto e na dança, não é muito visível nos desenhos pré-históricos. Talvez aqui o ritmo lúdico se apresente na insistência do gesto criador, que sempre acaba e sempre recomeça. Não admira assim que seja no âmbito do primeiro gesto criador, sinal inequívoco da presença do humano, que se venha inserir o desejo de contacto com o sobrenatural e se cumpra o voto à divindade, voto de esconjuro ou de prece.
Nas pinturas rupestres nota-se, com surpresa, o aproveitamento astucioso das fractuosidades e saliências de pedra para dar volume às figurações dos animais. Um olhar que vê o que lá não está mas que lá está potencialmente e que, por isso, será desenhado. É o mesmo olhar que vê castelos nas nuvens e serenas paisagens nas manchas de parede. Ouçamos a este respeito Leonardo da Vinci: “…assim o nosso Botticelli dizia que (o estudo da paisagem) era um estudo vão, porque era suficiente passar sobre uma parede com uma esponja embebida em várias cores para que ela lá deixe manchas onde se pode ver uma bela paisagem. É bem verdade que se pode ver numa mancha diferentes composições de coisas que lá se quiserem procurar, cabeças humanas, diversos animais, batalhas, escolhos, mares, nuvens, bosques, etc.”.
Assim se compreende que para Leonardo a pintura seja “coisa mental”. Tudo o que o artista conhece visualmente é conservado na sua mente, de modo natural, espontâneo, por vezes quase doloroso de tão deslumbrado. Provido da visão e do tacto, do olhar e da mão, conseguirá depois desdobrar esse outro mundo que em si nasce. Estas duas faculdades juntas é que fazem a especificidade do artista, o poder raro de expressar o que a natureza e a vida lhe imprimem na sensibilidade e na imaginação. Não é só ser capaz de ver mas também de inscrever, descrever, rescrever…
Esta transcrição facilita aos outros homens o acesso a essa visão porque, no fundo, todos possuem capacidade para a receber e entender. Daí o apreço permanente e universal pela obra de arte, que transforma todos em visionários. Mas apesar desta primazia singular – ele que vê antes de nós – e apesar deste serviço inegável, o artista representa apenas, na comunidade, o “habilidoso”. Nunca será um “conductor” social. Uma vez completada a obra de arte, ela pertence a toda a gente porque todos nela se reconhecem e o artista é como que despojado da sua obra. Terá de recomeçar para sobreviver.
Parece injusta esta domesticação do artista pela comunidade, onde não será nunca um agente mágico, recriador de mundos, com poder e domínio sobre aqueles que deslumbra e extasia com as suas habilidades. Não. Remetido constantemente à sua condição humana terá assim de prover à sua subsistência, como qualquer outro homem. Quando necessitar de tempo para o exercício do seu mister, alguém terá de o sustentar e a própria comunidade o fará, se isso lhe for útil. De outro modo tornar-se-á comerciante de si próprio. Pedinte. O que faz não é imediatamente útil e, sendo supérfluo, está sujeito às boas disposições e boas finanças dos outros, seus admiradores. O artista, não é por si só poderoso e influente com estatuto social elevado, pelo menos ao nível da sua importância na cultura. Criador de espaços de liberdade será sempre inconveniente para todo o poder. Ou subserviente. Compreende-se assim a permanente penúria de dinheiro em que vive, dependente de quem lhe quiser pagar. Comprar-lhe ou comprá-lo. “Avida dollars”. Este anagrama das letras do nome de Salvador Dali, inventado por André Breton, foi adoptado pelo pintor, num momento de lucidez e troça de si próprio, e torna patente esta situação. O artista é um trabalhador como outro qualquer, afinal. Ser visionário, habitante de dois mundos, não faz dele, automaticamente, um ser especial. As dificuldades sociais e familiares do artista são geralmente rodeadas de inquietação e de irritação, obrigando-o a descer do seu etéreo mundo para resolver fúteis ou graves questões domésticas para as quais não tem nem saber nem perspicácia, sofrendo desgaste inútil na sua, por vezes esquiva, inspiração.
A aprendizagem firma-se na “mimesis”, na imitação. Foi ela, aliás, que tornou possível – que torna possível! – a humanização, a par da linguagem, da agricultura, da tecnologia. O gesto criador é também, por isso, até certo ponto, copiável e recriável e na sucessão temporal dos artistas, copiando-se uns aos outros, aprendendo uns dos outros o modo de olhar e de fazer, mas ultrapassando as maneiras e subtilmente inovando na invenção de estilos próprios, eles transformam-se assim também em guardadores de segredos e de truques, de proporções e receitas, que irão transmitir o artesão ao aprendiz, o mestre ao discípulo. E estas duplas milenárias, atravessarão os séculos, vagueando de comunidade em comunidade, chamadas de terra em terra, oferecendo os seus préstimos de país para país, ou assentando, quando famosas, de “atelier” em “atelier” deixando sempre atrás de si rastos reconhecíveis. Muitos destes artistas são anónimos, como por exemplo o Mestre do Sardoal, que só tem por nome o nome da terra onde trabalhou. Outros, no favor de tempos mais propícios à individualização pessoal, marcaram com a sua forte personalidade espaço e tempo definidos, marcos na memória, que suscitam a admiração e respeito das gerações seguintes, nomes que se decoram e se veneram, obras que nos subjugam e contentam. Esta vagabundagem do artista é confirmada com muita frequência nas voltas da História. Quando D. Afonso Henriques pediu a S. Bernardo alguns monges para o arroteio das terras portuguesas, recentemente conquistadas aos mouros e vítimas de ermamento e destruição, os cistercienses, que vieram, construíram em Alcobaça um mosteiro em tudo idêntico ao de Claraval, implante desajustado, que viu à sua volta continuar a construir-se o românico. Só a partir de D. Afonso III, rei que de França veio, se enraizou o gótico, em 1250. No séc. XVI, todo o vale do Mondego foi enxameado pela estatuária feita ao jeito de João de Ruão, mestre em Coimbra da pedra lioz. A passagem em Portugal do pintor flamengo Jan Van Eyck, chamado por D. Afonso V, é decisiva para a execução, por Nuno Gonçalves, dos Painéis de S. Vicente. A estadia de Nazoni e Ludovice no séc. XVIII é fácil e agradavelmente assinalável… São bem leonardescos os Anjos que assistem ao Baptismo de Jesus, obra oriunda do atelier de Verrochio, como são da mão de Van Dyck muito do que Rubens pintou… Depois há saltos de séculos, misteriosos e inexplicáveis como o sorriso dos efebos na Grécia do séc. VII, que desaparece no helenismo mas resistiu nos Budas destruídos do Afeganistão, reaparece no Anjo da Anunciação da Catedral de Reims e imortaliza-se em duas telas de Leonardo da Vinci. Os nomes famosos de Zeuxis e Fídias sobrevoam a multidão dos geniais escravos gregos que, anonimamente, copiaram e recopiaram toda a arte helénica. A arte bizantina teve mais sorte. Depois de séculos de mestres e discípulos, de artesãos e aprendizes repetindo e melhorando modelos, numa euforia exaltante de cores e brilho, epifania de eternidade, só comparável às criações da arte egípcia, arte tumular que é resplendor e milagre, um nome se inscreve finalmente, no séc. XV, Andrei Rublov, que ilumina para sempre todo o conjunto greco-russo-bizantino…
No séc. XIV, na Itália, os artistas já são gente individualizada, ganhando fama própria, e o que fazem vai ao encontro de desejo da multidão, essa mesma que arrebata a Madonna Ruscelai do “atelier” de Cimabue assim que este finda a obra, e a leva em procissão até à Igreja para onde se destinava. Igual multidão entusiasta invadia a Igreja del Carmine, em Florença, para aplaudir Masaccio, esse “avatar” de Giotto, precursor genial como ele, e que, no alto do andaime pintava os frescos da Capela Brancacci, esses frescos que, depois da morte prematura do artista, permaneceriam como escola para o olhar dos futuros pintores renascentistas que os iam admirar. O gesto criador torna-se científico. “Che bella è la perspectiva!” exclamava Ucello. É já vincadamente pessoal e encarna agora o estilo próprio de cada artista. No entanto, não deixamos por isso de encadear todos os artistas uns nos outros, delimitando épocas, caracterizando escolas, deslindando influências, como se todos fossem comunicantes, diferentes mas iguais, pertencentes ao mesmo destino, detentores do mesmo mistério. Valerá ainda perguntar em que se reconhecem? O gesto criador é semelhante em todos eles e o que fazem tanto atrai os poderosos e mecenas como o povo miúdo. Se voltarmos à pré-história, vemos que ao lado das fantásticas visões dos animais, gravadas e pintadas nas paredes das cavernas, com intenções nitidamente religiosas ou mágicas, e portanto com utilidade manifesta, aparece-nos humildemente a arte de olaria onde o gesto criador que afeiçoa os vasos, neles acrescenta incisões geométricas, gratuitamente… Para os tornar mais valiosos, mais belos? A irrupção da beleza neste contexto primitivo não deixa de nos espantar. Todos julgamos saber o que é a beleza. Nem é preciso explicar. Se é que ela se explica… Prisioneira da emoção vê-se acomodada no reino da intuição, e no mais profundo sentido de viver, reino que o artista percorre, escolhido e predestinado para ouvir o canto das esferas estelares, sentir nos dedos as regras de desconhecida harmonia, exigente e branca, que lhe habita e assombra o corpo e a alma. Mas porquê aplicá-la ou descobri-la em objectos de uso comum? Que sentido faz? Parece-nos inexplicável esta identificação primordial, esta justaposição do artista e do artesão, habituados como estamos a separações qualitativas, porventura incorrectas.
A “poesis”, a criação, e a “teknê”, a realização dessa criação, não têm que andar separadas? O gesto criador é, ao mesmo tempo, “poesis” e “teknê”, e o domínio da beleza é o seu jardim privado. Houve alguns séculos de sereno compromisso em que os artistas se tornaram obreiros principais das maravilhas que os poderosos encomendavam para os seus palácios, as instituições religiosas ou cívicas para as suas Igrejas e devoções. O cânon estético era praticamente o mesmo, promovido pelo génio dos artistas do Renascimento que tinham ido recuperar, à Antiguidade, a medida do corpo humano. Mas não era só o consenso geral sobre a obrigatoriedade da figuração humana condigna e correcta, sobre a transcrição de paisagens naturais, ou os esforços prodigiosos para obter os melhores efeitos e forçar o resplandecer da beleza inatingível, a atingir e atingida. Os motivos eram sobretudo religiosos, sobrepujando-se aos retratos, às paisagens, às cenas domésticas ou aos mitos pagãos. O exagero deste compromisso desaguaria num formalismo e numa retórica exuberantes que inundaram literalmente a civilização ocidental. Nada nem ninguém ficou imune. Contudo, este formalismo dominador acabaria por perder completamente de vista o desígnio espiritual e religioso para o qual as obras tinham sido encomendadas. O delírio da pura forma, o predomínio do enfeite e do arre bicado, leve e gentil, aparentemente inofensivo, levaram o gesto criador a basear-se na perícia, no artificialismo do decorativo e do académico, numa ausência quase total da força simbólica do religioso ou do assombro pela presença do espiritual. Era velado pela emoção estética, epidérmica e sensual e, no fim e ao cabo, muito pouco embebido no mistério cristão.
O romantismo acentuou esta saturação do humano e do tema religioso, que herdara do barroco, fazendo renascer os ideais religiosos medievais, reproduzidos fielmente em obras de iluminada pieguice. E de repente aconteceu, com estrondo e violência, aquilo a que Ortega y Gasset chamou, num estudo de 1925, a “deshumanização da arte”. De modo abrupto, destruidor e provocatório, um punhado de artistas impôs aos olhos atónitos de um público estremunhado, um gesto criador “intranscendente”, esvaziado de todo o patético humano, liberto da linhagem dos mestres da tradição, e fazendo-o procurar directamente na raiz do pensamento a génese da cor, do movimento e do volume e aplicando à visão da realidade uma grelha de desconstrução que a desarticula, a escrutina e a desfaz em pedaços ou a explica em minudências matemáticas ou em linhas de força. Este processo é patente em Vieira da Silva, Pomar ou José Guimarães.
O impacto provocado pela intromissão destes artistas transgressores que buscam algo de verdadeiro, de fundo, de sólido para além da convenção, foi muito grande, tão grande que ainda dura há quase cem anos porque, como também viu Ortega na altura, implica a “impossibilidade de voltar atrás”. Picasso é o protótipo desta gente. Ele é o invasor vertical [3] espantosamente livre, iniciando uma visão primigénia da arte sem o peso de raízes condicionantes. "Não mais se celebra o homem vivo. “ A glória de Deus é o homem vivo, dizia, no séc. III, Santo Irineu. Assim, também se negará a glória festiva de Deus e tudo o que se erguer contra o homem será blasfémia.
A conquista da velocidade imprimiu ao mundo ocidental um ritmo de corrida, de fuga, de permanente precipitação para a frente, de contínua mudança, anseio devorador de novidades, com a colaboração eficiente das técnicas de “marketing”, imperiosa máquina que nos domina o comportamento, fornecendo-nos constantemente o alimento e o apetite. Mas, na refrega do atropelamento de escolas e de estilos, ninguém fica ferido ou sequer magoado, por maior o escândalo e a sempre mais sugestiva provocação. Nem mesmo será banido o sinistro Damian Hirst, com os seus cadáveres em formol. A sociedade de consumo, que também somos, encarrega-se de neutralizar estes pretensos gestos blasfemos, transformando-os rapidamente em mercadoria vendável, com cotação no mercado, na moda e na vaidade social. E dando a ganhar milhares de contos a estes vândalos vencedores.
Dir-se-ia que é a sociedade que se purifica a si mesma, neutralizando ataques e blasfémias, inserindo-os no seu simples e contínuo caminhar, anestesiando-se na pressa do sempre para a frente. “Homo viator”. Quem foi que disse que “nós não somos deste mundo” (Ruy Cinatti)? Condição por excelência do homem, portanto, este andamento, esta sociedade migrante, transeunte. “Opportet transire”, adverte Mestre Eckart. Não morre a esperança, portanto.
Este acontecimento, apresentado com frieza e vigor, entrou em aceleração, apanhado pela força do tempo e multiplicou-se, encarnando no cubismo, no dada, no futurismo, no surrealismo, na arte abstracta, na “pop art” que faz agora cinquenta anos e em que o cinismo de Andy Warhol entronizou para a eternidade a lata de sopa da Campbell. “Pop art”, e porque não? Ela pertence à visão correcta da paisagem a que pertencemos, em que nos encontramos envolvidos em objectos e electrodomésticos. Já não vivemos na natureza que hoje é guardada em parques naturais que se visitam em excursões pedagógicas e higiénicas. Vivemos quase todos encaixados na paisagem urbana, em cidades que apagaram as estrelas.
Neste correr esforçado, há pouco tempo para viver que se torna curto, concentrado, juvenil. Já tem sido frequentemente apontada e até estudada a actual infantilização da sociedade, a que assistimos com ansiedade e receio. As inscrições infantis de Klee ou de Miró, as construções aéreas e móveis de Calder seriam já os sinais precursores desta cidade cujo rei é uma criança. O que são os “happennings” e as instalações senão brincadeiras efémeras, passageiras? “I want to die young”, canta o vocalista da banda. E as divertidas máquinas de Tanguely, denúncia vigorosa do mercantilismo em arte ou a chalaça embrulhadora de Christo, que tenta salvar o olhar do excesso de imagens, multiplicadas pela fotografia, pelo cinema, pelos media, despertam um riso adolescente, nervoso e irresponsável, no gozo do monstruoso ou do grotesco (Bacon, Botero e Paula Rego), arrepiado com o gesto do arremesso de Pollock ou de Mathieu, que é a negação do projecto, instituída em obra de arte.
É curioso tentar seguir a trajectória do traço, do desenho contornado, com a cor a ele submetida. Nasce da técnica exigida pelo fresco e pela iluminura mas, mal se instala na Itália a pintura a óleo, ele desparece. E das mãos prodigiosas de Ticiano, de Velásquez, de Turner, dos impressionistas com apenas alguns toques de pincel, se abre e se espraia a criação do espaço evanescente e do ar circulante. Mas a invenção da gravura instalam-no na ilustração onde terá vida longa, sobretudo na Arte Nova com Beardsley, Mucha, Klimt. Depois Matisse, Léger, Almada Negreiros. Finalmente o cartaz, a banda desenhada, Tintim. Sorte para as criancinhas, dos 7 aos 77… “Vaidade das vaidades, tudo é vaidade e correr atrás do vento” adverte Quélec. “In extremis, coligam-se, em deslumbrante colaboração de refúgio, o teatro, a dança, a música, o vídeo, o cinema, produzindo espectáculos – ou conteúdos - para uma sociedade em que tudo se tornou espectáculo que é, por definição, temporário e frágil, circense e passageiro. Testemunhas urgentes do fenómeno social, encobertas pelo próprio excesso das suas recusas e propostas, teme-se que o fragor das criações destes artistas transgressores os não deixe ouvir ou entender. Era bom que os tomássemos a sério por uma vez e escutássemos a imensa dor que os move, num enredo de perplexidade e de morte. Mas de que serve o conselho? A velocidade é tal que neste momento talvez tudo o que se disse atrás já tenha excedido o prazo de validade. Peço desculpa.
BIBLIOGRAFIA
CARVALHO, Teresa Martins de - O gesto criador – Esboço para um estudo de criação artística (dactilografado) Faculdade de Letras - Departamento de Filosofia, Lisboa, 1983
FORMOSINHO, Sebastião J. e BRANCO, J. Oliveira – O brotar da criação. Universidade Católica Editora, Lisboa, Abril 1999
FREITAS, Lima de – Voz Visível . Edição do Autor, Lisboa 1971
GASSET, José Ortega y – La deshumanización del arte Ed. Revista de Ocidente, Madrid, 5ª ed., 1958
_________
[1] Leonardo da Vinci in Traité de peinture, pág. 94
[2] Ortega y Gasset in La Deshumanización del arte, pág. 53
[3] Lima de Freitas in Voz Visível, pág. 93
O motor da república
por Nuno Pombo
Para promover, penso eu, uma aproximação entre as pessoas e as instituições que as governam, representam ou simplesmente maçam, foi entendido mostrar ao pagode os bólides em que se passeiam ou fizeram transportar as excelências presidenciais. Uma espécie vanguardista de museu dos coches, aquele a que presidência da república tem direito.
Não é esta iniciativa, por si só, digna de qualquer comentário, não fora ter a anunciá-la um cartaz, plasticamente conseguido, no qual se vê, lustroso, imponente, um Rolls Royce encimado pela expressão "motor da república". Habituado que estou a pensar que esta república a que nos castigaram não é movida por causa (que não coisa) alguma, achei curiosa, por paradoxal, a chalaça publicitária.
Depois da conseguida perplexidade, dei comigo a concordar com a justeza da metáfora… Aquele Rolls Royce é, na verdade, adereço apetitoso para quem ambiciona cargos de chefia no funcionalismo público. Acresce que o dito Rolls presidencial é, também, o paradigma da república que temos: não é genuinamente português; tem um preço exorbitante; é pesadíssimo; se se avaria não se sabe bem quem o pode arranjar e qual o custo da reparação; o seu dono não o guia (tem motorista, mecânico, polidor, garagista, e outros "assessores"); gasta tanto combustível como um tanque de guerra; está insonorizado para conforto dos viajantes, ainda que seja ruidoso para todos os que se cruzam com ele (paciência!); polui quase tanto como uma fábrica de cimento; teoricamente todos podem ser donos de um, mas todos sabemos que não é bem assim; é lento, muito lento, e, convenhamos, não foi feito para levar ninguém muito longe...
Onde está esse Rolls? Num museu! Ora aí está uma decisão acertada!
In Diário Digital , em 27 de Novembro de 2006
Para promover, penso eu, uma aproximação entre as pessoas e as instituições que as governam, representam ou simplesmente maçam, foi entendido mostrar ao pagode os bólides em que se passeiam ou fizeram transportar as excelências presidenciais. Uma espécie vanguardista de museu dos coches, aquele a que presidência da república tem direito.
Não é esta iniciativa, por si só, digna de qualquer comentário, não fora ter a anunciá-la um cartaz, plasticamente conseguido, no qual se vê, lustroso, imponente, um Rolls Royce encimado pela expressão "motor da república". Habituado que estou a pensar que esta república a que nos castigaram não é movida por causa (que não coisa) alguma, achei curiosa, por paradoxal, a chalaça publicitária.
Depois da conseguida perplexidade, dei comigo a concordar com a justeza da metáfora… Aquele Rolls Royce é, na verdade, adereço apetitoso para quem ambiciona cargos de chefia no funcionalismo público. Acresce que o dito Rolls presidencial é, também, o paradigma da república que temos: não é genuinamente português; tem um preço exorbitante; é pesadíssimo; se se avaria não se sabe bem quem o pode arranjar e qual o custo da reparação; o seu dono não o guia (tem motorista, mecânico, polidor, garagista, e outros "assessores"); gasta tanto combustível como um tanque de guerra; está insonorizado para conforto dos viajantes, ainda que seja ruidoso para todos os que se cruzam com ele (paciência!); polui quase tanto como uma fábrica de cimento; teoricamente todos podem ser donos de um, mas todos sabemos que não é bem assim; é lento, muito lento, e, convenhamos, não foi feito para levar ninguém muito longe...
Onde está esse Rolls? Num museu! Ora aí está uma decisão acertada!
In Diário Digital , em 27 de Novembro de 2006
domingo, novembro 26, 2006
Dom Duarte de Bragança e Manuel Alegre

No passado dia 22 de Novembro, Manuel Alegre apresentou em Lisboa o livro Dom Duarte e a Democracia de Mendo Castro Henriques.
Unica Semper Avis publica hoje a intervenção de Manuel Alegre, bem como uma resenha de imprensa acerca do evento.
http://www.lusitana.org/causa_dd_2006_e_d.htm
quarta-feira, novembro 22, 2006
sábado, novembro 18, 2006
Henrique Barrilaro Ruas - Exposição na BNL
Dom Duarte e a Democracia


O mais recente livro de Mendo Castro Henriques - Dom Duarte e a Democracia - será apresentado em Lisboa por MANUEL ALEGRE na próxima Quarta-feira, 22 de Novembro, na Sala de Teatro Gymnasium (Centro Comercial Espaço Chiado), pelas 18h30.
No Porto, o livro será apresentado por PAULO TEIXEIRA PINTO, na Casa da Música - Corredor Nascente, Av. da Boavista, 604-610, no dia 23 de Novembro, pelas 18h30.
quarta-feira, novembro 15, 2006
sexta-feira, novembro 03, 2006
Cinco perguntas populares...
por Ruben de Carvalho
Jornalista
rubencarvalho@mail.telepac.pt
O projecto anunciado para o velho museu de "arte popular" em Belém levanta - até pelo que não foi esclarecido - diversas interrogações. Aqui se deixam cinco.
Primeiro. Associar num equipamento museológico a língua portuguesa e os descobrimentos faz sentido? E, se faz, a partir de que pressupostos culturais, científicos e ideológicos? Tata-se de uma associação virtuosa ou, pelo contrário, acabará a fazer prevalecer - com incontornável significado cultural e político - a visão de um dos aspectos sobre o outro? Naturalmente que a divulgação da língua portuguesa pelo mundo está intimamente associada aos descobrimentos, mas os descobrimentos não têm de ser abordados para além da questão da língua e a língua não tem de ser abordada para além dos descobrimentos?
Segundo. O tratamento museológico de um fenómeno linguístico tem hoje exigências (simultaneamente permitidas e exigidas pela evolução tecnológica) de que, segundo parece, as experiências virtuais de São Paulo são um estimulante exemplo. O edifício de Belém adequa-se minimamente a estas exigências? Mais importante: a musealização dos descobrimentos tem características, exigências e possibilidades completamente diferentes: é compatível, será enriquecedora e coerente a junção das duas?
Terceiro. O acervo existente (ainda?...) do antigo Museu de Arte Popular é contraditório no seu valor e significado, mas, para além exactamente da globalidade, de que já se falará, contém peças que, em quantidade e qualidade, são hoje únicas. A decisão tomada parece prever a sua disseminação por diversas instituições, algumas que poderão com coerência e rigor acolhê-las (caso do Museu de Etnologia). Mas não se previu, segundo parece, nenhuma solução para manter criticamente coerente um acervo que o é? Dispersá--lo peça a peça, à luz não se sabe bem de que critérios, não é evidentemente a liquidação de um património conceptual?
Quarto. O próprio museu era, como tem sido sublinhado, na sua globalidade - concepção, colecção, edifício - um elemento demonstrativo de uma visão cultural, ideológica e política do povo e da sua arte, própria do salazarismo. Que fica dessa relevante memória?
Quinta e insidiosa pergunta: depois da zona oriental e da Expo de Guterres, o Governo PS resolve acolher-se novamente aos convencionais faustos do poder da zona de Belém?...
Jornalista
rubencarvalho@mail.telepac.pt
O projecto anunciado para o velho museu de "arte popular" em Belém levanta - até pelo que não foi esclarecido - diversas interrogações. Aqui se deixam cinco.
Primeiro. Associar num equipamento museológico a língua portuguesa e os descobrimentos faz sentido? E, se faz, a partir de que pressupostos culturais, científicos e ideológicos? Tata-se de uma associação virtuosa ou, pelo contrário, acabará a fazer prevalecer - com incontornável significado cultural e político - a visão de um dos aspectos sobre o outro? Naturalmente que a divulgação da língua portuguesa pelo mundo está intimamente associada aos descobrimentos, mas os descobrimentos não têm de ser abordados para além da questão da língua e a língua não tem de ser abordada para além dos descobrimentos?
Segundo. O tratamento museológico de um fenómeno linguístico tem hoje exigências (simultaneamente permitidas e exigidas pela evolução tecnológica) de que, segundo parece, as experiências virtuais de São Paulo são um estimulante exemplo. O edifício de Belém adequa-se minimamente a estas exigências? Mais importante: a musealização dos descobrimentos tem características, exigências e possibilidades completamente diferentes: é compatível, será enriquecedora e coerente a junção das duas?
Terceiro. O acervo existente (ainda?...) do antigo Museu de Arte Popular é contraditório no seu valor e significado, mas, para além exactamente da globalidade, de que já se falará, contém peças que, em quantidade e qualidade, são hoje únicas. A decisão tomada parece prever a sua disseminação por diversas instituições, algumas que poderão com coerência e rigor acolhê-las (caso do Museu de Etnologia). Mas não se previu, segundo parece, nenhuma solução para manter criticamente coerente um acervo que o é? Dispersá--lo peça a peça, à luz não se sabe bem de que critérios, não é evidentemente a liquidação de um património conceptual?
Quarto. O próprio museu era, como tem sido sublinhado, na sua globalidade - concepção, colecção, edifício - um elemento demonstrativo de uma visão cultural, ideológica e política do povo e da sua arte, própria do salazarismo. Que fica dessa relevante memória?
Quinta e insidiosa pergunta: depois da zona oriental e da Expo de Guterres, o Governo PS resolve acolher-se novamente aos convencionais faustos do poder da zona de Belém?...
sexta-feira, outubro 20, 2006
A batalha das palavras
por Pedro Vaz Patto
As "batalhas" do aborto parece que começam por questões semânticas, pelas palavras. Afinal, no referendo que se aproxima, está em discussão a despenalização e descriminalização do aborto, ou, antes, a sua legalização e liberalização?
Os partidários do sim preferem falar em descriminalização, ou mesmo em simples despenalização, e não em legalização ou liberalização . É provável que a pergunta a submeter a referendo venha a ser formulada desse modo. Mas não estará, antes, em causa a legalização e liberalização do aborto?
Compreende-se a preferência dos partidários do sim pelas expressões descriminalização e despenalização. Têm uma conotação mais moderada e menos radical, e poderão ir de encontro ao sentir de muitas pessoas que afirmam que «são contra o aborto, mas não querem que as mulheres sejam penalizadas». Estas pessoas poderão defender a despenalização, mas, porque «são contra o aborto», não aceitarão que o Estado passe a colaborar activamente na sua prática. Ora, no referendo não está em jogo apenas (e sobretudo) a despenalização ou descriminalização do aborto (esta poderia verificar-se sem que o aborto passasse a ser lícito, a ter cobertura legal e a ser realizado com a colaboração activa do Estado), está em jogo a sua legalização e liberalização.
Se vencer o sim, o aborto realizado até às dez semanas de gravidez por vontade da mulher passará a ser lícito, passará a ter cobertura legal e passará a ser praticado com a colaboração activa do Estado (o Ministro da Saúde até tem lamentado o facto de, actualmente, se realizarem nos hospitais públicos abortos em número que considera reduzido). Daí que se deva falar em legalização.
E, no que se refere a tal período da gravidez, essa licitude não depende da verificação de qualquer pressuposto para além da simples vontade da mulher. Deixará de vigorar um regime de "indicações", como se verifica no regime legal vigente, em que a licitude do aborto não depende da simples vontade da mulher, mas da verificação de alguma das seguintes situações: perigo para a vida da mulher, grave perigo para a saúde da mulher, malformação ou doença grave e incurável do nascituro ou gravidez resultante de violação. Não estaremos perante um alargamento a outro tipo de "indicações" (razões sócio-económicas, por exemplo, como se verifica na legislação italiana ou outras). Estaremos perante um regime de aborto livre ou aborto a pedido. Daí que se deva falar em liberalização.
Alguns exemplos poderão ajudar-nos a compreender estas distinções entre descriminalização (ou despenalização) e legalização (ou liberalização).
Nem todas as condutas ilícitas são crimes. A falta de pagamento de dívidas, por exemplo, não é crime, mas não deixa de ser uma conduta ilícita. Os crimes são condutas ilícitas particularmente graves, porque atingem valores fundamentais e estruturantes da vida comunitária.
Há alguns anos, foi descriminalizado (e despenalizado) o consumo de droga. Mas isso não tornou o consumo de droga uma conduta lícita. O consumo de droga passou a ser considerado uma contra-ordenação, uma infracção menos grave do que um crime, sancionada com coima (e não com pena). O consumo de droga não passou a ser livre, a venda de droga não passou a ser livre, nem o Governo passou a fornecer droga a quem o queira. Isto porque o consumo de droga não foi legalizado ou liberalizado. Mas tal sucederá com o aborto até às dez semanas, se vencer o sim . O Estado passará a garantir a sua prática livre, e até em instituições públicas ou com o recurso a financiamento público.
Também foi descriminalizada a emissão de cheque sem provisão em determinadas circunstâncias (quanto aos chamados cheques "pré-datados" ou aos cheques de reduzido valor). Isso não significa que a emissão de cheque sem provisão nessas circunstâncias tenha passado a ser lícita (não foi legalizada). Não deixa de haver uma responsabilidade civil, uma obrigação de indemnização que recai sobre a pessoa que emite o cheque.
O exercício da prostituição também está descriminalizado e despenalizado. Mas esta actividade não tem actualmente entre nós (ao contrário do que se verifica na Holanda) cobertura legal e a exploração da prostituição (o proxenetismo ou "lenocínio") é criminalizada. Há, por isso, quem defenda a legalização dessa actividade entre nós, que é, assim, diferente da sua descriminalização e despenalização.
Outros esclarecimentos se impõem, ainda.
Parece que os partidários do sim preferem, agora, falar em despenalização, e não em descriminalização. E que a pergunta a submeter a referendo incluirá a primeira dessas expressões. Compreende-se que assim seja, pelas razões atrás invocadas. A expressão é ainda mais suave, inegavelmente. Mas não é correcta (é, para este efeito, ainda menos correcta do que descriminalização) .
Embora, normalmente, descriminalização e despenalização coincidam (como nos exemplos atrás referidos), porque ao crime corresponde, em princípio, uma pena, poderia verificar-se uma despenalização sem descriminalização. O Código Penal prevê, nalgumas situações, a dispensa de pena quando se verifica a prática de um crime. Na proposta de alteração do regime penal do aborto em tempos sugerida pelo Prof. Freitas do Amaral, o aborto continuaria a ser crime (uma conduta objectivamente censurável como tal definida pela Lei), mas estaria, em regra, excluída a culpa da mulher, por se verificar uma situação de "estado de necessidade desculpante", o que afastaria a aplicação de qualquer pena. Mas não é nada disto que se verifica na proposta a submeter a referendo. De acordo com essa proposta, o aborto realizado, por vontade da mulher grávida, nas primeiras dez semanas de gravidez e em estabelecimento legalmente autorizado, será descriminalizado.
Importa também esclarecer que não são necessárias a descriminalização e despenalização do aborto para evitar a prisão, e até o julgamento, das mulheres que abortam.
Quanto à prisão, esta é, no nosso sistema penal, um último recurso (não o primeiro, nem o principal). Não há notícia de mulheres condenadas por aborto em pena de prisão. Em relação a muitos outros crimes (injúrias, difamação, condução ilegal, condução em estado de embriaguez) está prevista a pena de prisão, mas esta não se aplica na prática, sobretudo quando se trata de uma primeira condenação. E mesmo o julgamento dessas mulheres pode ser evitado, através do recurso à suspensão provisória do processo.
No fundo, o essencial da questão a discutir no referendo não reside na realização de julgamentos das mulheres que abortam (estes podem ser evitados no actual quadro legal). E não reside sequer na criminalização ou descriminalização do aborto. Reside, antes, na sua legalização e liberalização. Reside em saber se o Estado deve facilitar e colaborar activamente na prática do aborto ou se, pelo contrário, deve colaborar activamente na criação de condições que favoreçam a maternidade e a paternidade, alternativas ao aborto que todos reconhecerão como mais saudáveis e mais portadoras de felicidade para a mulher, o homem e a criança.
Pedro Vaz Patto
As "batalhas" do aborto parece que começam por questões semânticas, pelas palavras. Afinal, no referendo que se aproxima, está em discussão a despenalização e descriminalização do aborto, ou, antes, a sua legalização e liberalização?
Os partidários do sim preferem falar em descriminalização, ou mesmo em simples despenalização, e não em legalização ou liberalização . É provável que a pergunta a submeter a referendo venha a ser formulada desse modo. Mas não estará, antes, em causa a legalização e liberalização do aborto?
Compreende-se a preferência dos partidários do sim pelas expressões descriminalização e despenalização. Têm uma conotação mais moderada e menos radical, e poderão ir de encontro ao sentir de muitas pessoas que afirmam que «são contra o aborto, mas não querem que as mulheres sejam penalizadas». Estas pessoas poderão defender a despenalização, mas, porque «são contra o aborto», não aceitarão que o Estado passe a colaborar activamente na sua prática. Ora, no referendo não está em jogo apenas (e sobretudo) a despenalização ou descriminalização do aborto (esta poderia verificar-se sem que o aborto passasse a ser lícito, a ter cobertura legal e a ser realizado com a colaboração activa do Estado), está em jogo a sua legalização e liberalização.
Se vencer o sim, o aborto realizado até às dez semanas de gravidez por vontade da mulher passará a ser lícito, passará a ter cobertura legal e passará a ser praticado com a colaboração activa do Estado (o Ministro da Saúde até tem lamentado o facto de, actualmente, se realizarem nos hospitais públicos abortos em número que considera reduzido). Daí que se deva falar em legalização.
E, no que se refere a tal período da gravidez, essa licitude não depende da verificação de qualquer pressuposto para além da simples vontade da mulher. Deixará de vigorar um regime de "indicações", como se verifica no regime legal vigente, em que a licitude do aborto não depende da simples vontade da mulher, mas da verificação de alguma das seguintes situações: perigo para a vida da mulher, grave perigo para a saúde da mulher, malformação ou doença grave e incurável do nascituro ou gravidez resultante de violação. Não estaremos perante um alargamento a outro tipo de "indicações" (razões sócio-económicas, por exemplo, como se verifica na legislação italiana ou outras). Estaremos perante um regime de aborto livre ou aborto a pedido. Daí que se deva falar em liberalização.
Alguns exemplos poderão ajudar-nos a compreender estas distinções entre descriminalização (ou despenalização) e legalização (ou liberalização).
Nem todas as condutas ilícitas são crimes. A falta de pagamento de dívidas, por exemplo, não é crime, mas não deixa de ser uma conduta ilícita. Os crimes são condutas ilícitas particularmente graves, porque atingem valores fundamentais e estruturantes da vida comunitária.
Há alguns anos, foi descriminalizado (e despenalizado) o consumo de droga. Mas isso não tornou o consumo de droga uma conduta lícita. O consumo de droga passou a ser considerado uma contra-ordenação, uma infracção menos grave do que um crime, sancionada com coima (e não com pena). O consumo de droga não passou a ser livre, a venda de droga não passou a ser livre, nem o Governo passou a fornecer droga a quem o queira. Isto porque o consumo de droga não foi legalizado ou liberalizado. Mas tal sucederá com o aborto até às dez semanas, se vencer o sim . O Estado passará a garantir a sua prática livre, e até em instituições públicas ou com o recurso a financiamento público.
Também foi descriminalizada a emissão de cheque sem provisão em determinadas circunstâncias (quanto aos chamados cheques "pré-datados" ou aos cheques de reduzido valor). Isso não significa que a emissão de cheque sem provisão nessas circunstâncias tenha passado a ser lícita (não foi legalizada). Não deixa de haver uma responsabilidade civil, uma obrigação de indemnização que recai sobre a pessoa que emite o cheque.
O exercício da prostituição também está descriminalizado e despenalizado. Mas esta actividade não tem actualmente entre nós (ao contrário do que se verifica na Holanda) cobertura legal e a exploração da prostituição (o proxenetismo ou "lenocínio") é criminalizada. Há, por isso, quem defenda a legalização dessa actividade entre nós, que é, assim, diferente da sua descriminalização e despenalização.
Outros esclarecimentos se impõem, ainda.
Parece que os partidários do sim preferem, agora, falar em despenalização, e não em descriminalização. E que a pergunta a submeter a referendo incluirá a primeira dessas expressões. Compreende-se que assim seja, pelas razões atrás invocadas. A expressão é ainda mais suave, inegavelmente. Mas não é correcta (é, para este efeito, ainda menos correcta do que descriminalização) .
Embora, normalmente, descriminalização e despenalização coincidam (como nos exemplos atrás referidos), porque ao crime corresponde, em princípio, uma pena, poderia verificar-se uma despenalização sem descriminalização. O Código Penal prevê, nalgumas situações, a dispensa de pena quando se verifica a prática de um crime. Na proposta de alteração do regime penal do aborto em tempos sugerida pelo Prof. Freitas do Amaral, o aborto continuaria a ser crime (uma conduta objectivamente censurável como tal definida pela Lei), mas estaria, em regra, excluída a culpa da mulher, por se verificar uma situação de "estado de necessidade desculpante", o que afastaria a aplicação de qualquer pena. Mas não é nada disto que se verifica na proposta a submeter a referendo. De acordo com essa proposta, o aborto realizado, por vontade da mulher grávida, nas primeiras dez semanas de gravidez e em estabelecimento legalmente autorizado, será descriminalizado.
Importa também esclarecer que não são necessárias a descriminalização e despenalização do aborto para evitar a prisão, e até o julgamento, das mulheres que abortam.
Quanto à prisão, esta é, no nosso sistema penal, um último recurso (não o primeiro, nem o principal). Não há notícia de mulheres condenadas por aborto em pena de prisão. Em relação a muitos outros crimes (injúrias, difamação, condução ilegal, condução em estado de embriaguez) está prevista a pena de prisão, mas esta não se aplica na prática, sobretudo quando se trata de uma primeira condenação. E mesmo o julgamento dessas mulheres pode ser evitado, através do recurso à suspensão provisória do processo.
No fundo, o essencial da questão a discutir no referendo não reside na realização de julgamentos das mulheres que abortam (estes podem ser evitados no actual quadro legal). E não reside sequer na criminalização ou descriminalização do aborto. Reside, antes, na sua legalização e liberalização. Reside em saber se o Estado deve facilitar e colaborar activamente na prática do aborto ou se, pelo contrário, deve colaborar activamente na criação de condições que favoreçam a maternidade e a paternidade, alternativas ao aborto que todos reconhecerão como mais saudáveis e mais portadoras de felicidade para a mulher, o homem e a criança.
Pedro Vaz Patto
domingo, outubro 15, 2006
quinta-feira, outubro 12, 2006
Legítimas dúvidas
CARTA DO CANADÁ
por Fernanda Leitão
Recentemente, o secretário de estado das Comunidades, António Braga, confirmou publicamente que o ensino da língua portuguesa no estrangeiro deixa de ser tutelado pelo Ministério da Educação e passa a sê-lo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Instituto Camões. Esta decisão governamental, sem a consulta ampla e prévia que se impunha, pela importância do assunto e porque Portugal vive em democracia (embora às vezes não pareça), torna legítimas as muitas dúvidas que inundam as comunidades emigrantes, as perguntas que gostariam de ver respondidas para que o seu cepticismo não se torne irreparável, causticadas que estão de serem, apenas e só, fornecedoras de divisas e de votos. Penso que é tempo de abrirmos, também em público, a gaveta das dúvidas.
O ensino da língua portuguesa no estrangeiro tem duas vertentes claramente separadas: o ensino aos filhos dos emigrantes portugueses (com o ouvido habituado à língua portuguesa em casa e aprendendo as primeiras letras no país de acolhimento)e o ensino aos cidadãos estrangeiros que pretendem conhecer a língua de Camões (por vocação académica, por gosto cultural, por necessidades profissionais, etc). Neste último caso, compreende-se que a dependência seja do Insituto Camões, teoricamente dirigido ao ensino universitário e às demandas culturais dos cidadãos dos outros países. Mas, no que respeita ao ensino do português básico, para crianças de ascendência lusa, é óbvio que tudo devia ser tutelado pelo Ministério da Educação, porque é este ministério quem emprega os professores, treinados para o serem, ao passo que o Instituto Camões se limita a mandar leitores de português para universidades estrangeiras, geralmente jovens licenciados por universidades portuguesas, que não raro são criticados nos jornais estudantis).
Aqui, e no que toca ao terreno que conheço, o Canadá, perfilam-se de imediato algumas dúvidas. O Instituto Camões paga os honorários dos leitores, admitidos por concursos (muito comentados com azedume por se considerarem balcões de amiguismo, cunhas e compadrio). Os leitores exercem as suas funções no departamento de línguas internacionais ou em departamentos onde a língua portuguesa vive o quotidiano com a língua espanhola). É o caso da Universidade de Toronto, a funcionar há mais de 50 anos e que nunca formou um único aluno em português para poder exercer a profissão em condições, acrescendo que dali têm saído muitos alunos com um português a nivelar-se pelo bem pobre, o que incomoda quem ouve membros do xadrez político canadiano a exprimirem-se quando se dirigem a portugueses, e que por certo incomoda também quem assim fala e faz tão triste figura. As universidades cobram propinas aos alunos que frequentam as classes de português. Temos, pois, que universidades canadianas, graças ao Instituto Camões, dispõem de leitores pagos por Portugal e ainda recebem as propinas dos estudantes que pretendem aprender a nossa língua. É um bom negócio. Mas tem permitido mais: que, em determinados concursos, “apareça” a instrutora de língua portuguesa, contratada e paga pela Universidade de Toronto, portanto completamente alheia ao aparelho estadual português, para manifestar se gosta ou não do candidato ou da candidata. Há casos, há testemunhos. Quanto aos leitores, aqui no terreno, são vigiados, com açaime e trela curta, pela mesma instrutora, que não permite autonomias nem opiniões divergentes. Marcação tão cerrada que, exceptuando poucos casos de pessoas acomodadas à bandalheira, os não acomodados sofreram perseguições e vexames de toda a ordem. Houve mesmo uma leitora que caíu numa depressão tal que teve de regressar a Portugal para se poder tratar.
No que ao ensino a crianças de famílias lusas, ainda no que ao Canadá se refere, nunca Portugal enviou para estas paragens professores pagos e contratados, como mandou para a Europa. O ensino é ministrado por escolas particulares e, também, por escolas canadianas ao abrigo do Heritage Program (um dos meios de afirmação do multiculturalismo). Este último divide-se em dois sectores: o Ensino Público e o Ensino Católico. Num e noutro dão aulas de português, muito poucas semanalmente, portugueses que se sentem habilitados para o fazer, o que nem sempre significa que o estejam. Houve, no Ensino Católico, uns directores portugueses que deixaram fama no modo como recrutavam professores, tal era o primarismo utilizado, e esse ensino passou por maus bocados porque sempre é verdade que não se podem enganar todos durante todo o tempo. Neste terreno, que é pago pelo Canadá, a única acção que Portugal pode tomar (deve tomar), em termos de diálogo construtivo com as autoridades escolares canadianas, é a abordagem feita pelo coordenador ou pelos diplomatas em representação do estado português. É de justiça apontar que, neste campo, muito tem feito a actual coordenadora, que é uma pessoa conhecida e respeitada no lado canadiano.
Quanto às escolas privadas, é toda uma novela. Em geral, um português com algum dinheiro recruta 2 ou 3 professores (muitos deles não o são, têm outras profissões, mas porque sabem um bocado mais de português, são candidatos a estas escolas). Depois, aluga salas numa escola canadiana, ou num clube português, vai ao consulado registar a escola e pedir o seu reconhecimento pelo Ministério da Educação. Actualmente, mais concretamente de 1997 para cá, o reconhecimento obedece a regras emanadas da tutela que a coordenadora faz cumprir (antes disso, o reconhecimento era feito à trouxe-mouxe, no consulado, com muito compadrio pelo meio, e só assim se compreende que tenham sido autorizadas escolas que mais parecem a sala da Ti Faustina, nos anos 50, nas funduras do interior). Cada aluno paga um tanto por mês e é com essa receita que o director da escola paga aos professores, o aluguer das salas e o mais que é de regra. De Portugal não vem dinheiro, vêm livros de vez em quando, e também vêm políticos portugueses que dão beijinhos e prometem este mundo e o outro. De há anos para cá, o governo português conta os tempos de serviço destes professores para efeito de reforma (claro, tem havido tentativas de golpada por parte de uns paraquedistas) e proporciona cursos de reciclagem de vez em quando. Estas escolas são, em geral, muito activas no tecido social comunitário, participando em exposições, paradas e outros acontecimentos. Há escolas destas um pouco por todo o Canadá, um país que vai do Atlântico ao Pacífico. Essas escolas têm sido visitadas anualmente e estão sempre acompanhadas on line, por telefone ou fax. Tem havido nelas verdadeiros missionários da língua portuguesa, autênticos mártires que deram vida e saúde por este sonho de não se perder a língua portuguesa (alguns deles, trabalhando para directores desonestos, nem os tempos de serviço contados correctamente tiveram), gente lusa de espinha direita que se sacrificou pela Pátria de todos nós. Mas tem havido também uma escória mercenária que, pasmem, tem cunhas em Lisboa e ameaça com isso...
Parece-nos evidente que, apesar de todos os pesares causados pelo Ministério da Educação, é a este que compete o ensino básico ministrado no estrangeiro. Pois se o Ministério dos Negócios Estrangeiros não tem sabido fazer do Instituto Camões uma instituição irrepreensível, como quer fazer-nos acreditar que vai saber dirigir o ensino da língua pátria às crianças de famílias lusas? Não se estará a pôr o carro à frente dos bois? Não teriam de limpar, primeiro, o Instituto Camões e só depois tomar decisões de fundo? Não teriam, primeiro, de obrigar o Ministério da Educação a cumprir os seus deveres com as escolas, e quem as serve, no estrangeiro? Não receiam os frutos desta decisão dentro de poucos anos?
Deviam recear.
por Fernanda Leitão
Recentemente, o secretário de estado das Comunidades, António Braga, confirmou publicamente que o ensino da língua portuguesa no estrangeiro deixa de ser tutelado pelo Ministério da Educação e passa a sê-lo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Instituto Camões. Esta decisão governamental, sem a consulta ampla e prévia que se impunha, pela importância do assunto e porque Portugal vive em democracia (embora às vezes não pareça), torna legítimas as muitas dúvidas que inundam as comunidades emigrantes, as perguntas que gostariam de ver respondidas para que o seu cepticismo não se torne irreparável, causticadas que estão de serem, apenas e só, fornecedoras de divisas e de votos. Penso que é tempo de abrirmos, também em público, a gaveta das dúvidas.
O ensino da língua portuguesa no estrangeiro tem duas vertentes claramente separadas: o ensino aos filhos dos emigrantes portugueses (com o ouvido habituado à língua portuguesa em casa e aprendendo as primeiras letras no país de acolhimento)e o ensino aos cidadãos estrangeiros que pretendem conhecer a língua de Camões (por vocação académica, por gosto cultural, por necessidades profissionais, etc). Neste último caso, compreende-se que a dependência seja do Insituto Camões, teoricamente dirigido ao ensino universitário e às demandas culturais dos cidadãos dos outros países. Mas, no que respeita ao ensino do português básico, para crianças de ascendência lusa, é óbvio que tudo devia ser tutelado pelo Ministério da Educação, porque é este ministério quem emprega os professores, treinados para o serem, ao passo que o Instituto Camões se limita a mandar leitores de português para universidades estrangeiras, geralmente jovens licenciados por universidades portuguesas, que não raro são criticados nos jornais estudantis).
Aqui, e no que toca ao terreno que conheço, o Canadá, perfilam-se de imediato algumas dúvidas. O Instituto Camões paga os honorários dos leitores, admitidos por concursos (muito comentados com azedume por se considerarem balcões de amiguismo, cunhas e compadrio). Os leitores exercem as suas funções no departamento de línguas internacionais ou em departamentos onde a língua portuguesa vive o quotidiano com a língua espanhola). É o caso da Universidade de Toronto, a funcionar há mais de 50 anos e que nunca formou um único aluno em português para poder exercer a profissão em condições, acrescendo que dali têm saído muitos alunos com um português a nivelar-se pelo bem pobre, o que incomoda quem ouve membros do xadrez político canadiano a exprimirem-se quando se dirigem a portugueses, e que por certo incomoda também quem assim fala e faz tão triste figura. As universidades cobram propinas aos alunos que frequentam as classes de português. Temos, pois, que universidades canadianas, graças ao Instituto Camões, dispõem de leitores pagos por Portugal e ainda recebem as propinas dos estudantes que pretendem aprender a nossa língua. É um bom negócio. Mas tem permitido mais: que, em determinados concursos, “apareça” a instrutora de língua portuguesa, contratada e paga pela Universidade de Toronto, portanto completamente alheia ao aparelho estadual português, para manifestar se gosta ou não do candidato ou da candidata. Há casos, há testemunhos. Quanto aos leitores, aqui no terreno, são vigiados, com açaime e trela curta, pela mesma instrutora, que não permite autonomias nem opiniões divergentes. Marcação tão cerrada que, exceptuando poucos casos de pessoas acomodadas à bandalheira, os não acomodados sofreram perseguições e vexames de toda a ordem. Houve mesmo uma leitora que caíu numa depressão tal que teve de regressar a Portugal para se poder tratar.
No que ao ensino a crianças de famílias lusas, ainda no que ao Canadá se refere, nunca Portugal enviou para estas paragens professores pagos e contratados, como mandou para a Europa. O ensino é ministrado por escolas particulares e, também, por escolas canadianas ao abrigo do Heritage Program (um dos meios de afirmação do multiculturalismo). Este último divide-se em dois sectores: o Ensino Público e o Ensino Católico. Num e noutro dão aulas de português, muito poucas semanalmente, portugueses que se sentem habilitados para o fazer, o que nem sempre significa que o estejam. Houve, no Ensino Católico, uns directores portugueses que deixaram fama no modo como recrutavam professores, tal era o primarismo utilizado, e esse ensino passou por maus bocados porque sempre é verdade que não se podem enganar todos durante todo o tempo. Neste terreno, que é pago pelo Canadá, a única acção que Portugal pode tomar (deve tomar), em termos de diálogo construtivo com as autoridades escolares canadianas, é a abordagem feita pelo coordenador ou pelos diplomatas em representação do estado português. É de justiça apontar que, neste campo, muito tem feito a actual coordenadora, que é uma pessoa conhecida e respeitada no lado canadiano.
Quanto às escolas privadas, é toda uma novela. Em geral, um português com algum dinheiro recruta 2 ou 3 professores (muitos deles não o são, têm outras profissões, mas porque sabem um bocado mais de português, são candidatos a estas escolas). Depois, aluga salas numa escola canadiana, ou num clube português, vai ao consulado registar a escola e pedir o seu reconhecimento pelo Ministério da Educação. Actualmente, mais concretamente de 1997 para cá, o reconhecimento obedece a regras emanadas da tutela que a coordenadora faz cumprir (antes disso, o reconhecimento era feito à trouxe-mouxe, no consulado, com muito compadrio pelo meio, e só assim se compreende que tenham sido autorizadas escolas que mais parecem a sala da Ti Faustina, nos anos 50, nas funduras do interior). Cada aluno paga um tanto por mês e é com essa receita que o director da escola paga aos professores, o aluguer das salas e o mais que é de regra. De Portugal não vem dinheiro, vêm livros de vez em quando, e também vêm políticos portugueses que dão beijinhos e prometem este mundo e o outro. De há anos para cá, o governo português conta os tempos de serviço destes professores para efeito de reforma (claro, tem havido tentativas de golpada por parte de uns paraquedistas) e proporciona cursos de reciclagem de vez em quando. Estas escolas são, em geral, muito activas no tecido social comunitário, participando em exposições, paradas e outros acontecimentos. Há escolas destas um pouco por todo o Canadá, um país que vai do Atlântico ao Pacífico. Essas escolas têm sido visitadas anualmente e estão sempre acompanhadas on line, por telefone ou fax. Tem havido nelas verdadeiros missionários da língua portuguesa, autênticos mártires que deram vida e saúde por este sonho de não se perder a língua portuguesa (alguns deles, trabalhando para directores desonestos, nem os tempos de serviço contados correctamente tiveram), gente lusa de espinha direita que se sacrificou pela Pátria de todos nós. Mas tem havido também uma escória mercenária que, pasmem, tem cunhas em Lisboa e ameaça com isso...
Parece-nos evidente que, apesar de todos os pesares causados pelo Ministério da Educação, é a este que compete o ensino básico ministrado no estrangeiro. Pois se o Ministério dos Negócios Estrangeiros não tem sabido fazer do Instituto Camões uma instituição irrepreensível, como quer fazer-nos acreditar que vai saber dirigir o ensino da língua pátria às crianças de famílias lusas? Não se estará a pôr o carro à frente dos bois? Não teriam de limpar, primeiro, o Instituto Camões e só depois tomar decisões de fundo? Não teriam, primeiro, de obrigar o Ministério da Educação a cumprir os seus deveres com as escolas, e quem as serve, no estrangeiro? Não receiam os frutos desta decisão dentro de poucos anos?
Deviam recear.
sexta-feira, outubro 06, 2006
Filhos da Carbonária
por Ana Sá Lopes
ana.s.lopes@dn..pt
Cavaco Silva lançou um aviso curioso sobre a comemoração do centenário da República: "Não cabe ao Estado patrocinar versões oficiais ou oficiosas da História." Para o Presidente, "as comemorações não devem servir de pretexto para dividir os portugueses em torno de polémicas velhas de décadas, destituídas de sentido no nosso tempo". Cavaco Silva ficou-se por aqui e não concretizou quais as "polémicas velhas de décadas" que não quer ver a "dividir os portugueses". A comissão liderada por Vital Moreira fica, desde já, sob vigilância presidencial: Cavaco prometeu ontem que fiscalizará cuidadosamente se o Estado acaba ou não "a patrocinar versões oficiais ou oficiosas da História".É duvidoso que a República ainda hoje se preste a um conflito histórico-político do género do que acontece em Espanha, a propósito da Lei de Memória Histórica e da guerra civil. A principal dicotomia (República- -monarquia) não existe, ou quase não existe. A "bondade intrínseca" do regime republicano tem vindo a ser posta em causa por vários historiadores e dificilmente causará qualquer "cisma" nacional. É provável que o país já consiga conviver tranquilamente com a génese do regime, filho legítimo do terrorismo da Carbonária (é à força da Carbonária que se deve a implantação da República, e não aos discursos do institucional Partido Republicano Português, que se manteve mais ou menos à margem da revolução do 5 de Outubro). A Carbonária (a nossa mãe) não era propriamente recomendável - era uma organização terrorista. Agora, foi aos pés de um dos seus homens - Machado Santos, herói e vítima da República, que se barricou na Rotunda até a monarquia cair - que devemos o sucesso do 5 de Outubro. Foi com a Carbonária que o famoso (porque todas as cidades do país lhe dedicaram uma rua) Almirante Cândido dos Reis preparou a revolução - que não viu vencer porque, sem comunicações com a Rotunda, e convencido de que os revoltosos tinham sido derrotados, se suicidou nesse 5 de Outubro. Deve ser por causa do terrorismo carbonário que o PR está preocupado com as "divisões entre portugueses". Mas pode-se sempre não falar nisso.
In Diário de Notícias, 6 de Outubro de 2006
ana.s.lopes@dn..pt
Cavaco Silva lançou um aviso curioso sobre a comemoração do centenário da República: "Não cabe ao Estado patrocinar versões oficiais ou oficiosas da História." Para o Presidente, "as comemorações não devem servir de pretexto para dividir os portugueses em torno de polémicas velhas de décadas, destituídas de sentido no nosso tempo". Cavaco Silva ficou-se por aqui e não concretizou quais as "polémicas velhas de décadas" que não quer ver a "dividir os portugueses". A comissão liderada por Vital Moreira fica, desde já, sob vigilância presidencial: Cavaco prometeu ontem que fiscalizará cuidadosamente se o Estado acaba ou não "a patrocinar versões oficiais ou oficiosas da História".É duvidoso que a República ainda hoje se preste a um conflito histórico-político do género do que acontece em Espanha, a propósito da Lei de Memória Histórica e da guerra civil. A principal dicotomia (República- -monarquia) não existe, ou quase não existe. A "bondade intrínseca" do regime republicano tem vindo a ser posta em causa por vários historiadores e dificilmente causará qualquer "cisma" nacional. É provável que o país já consiga conviver tranquilamente com a génese do regime, filho legítimo do terrorismo da Carbonária (é à força da Carbonária que se deve a implantação da República, e não aos discursos do institucional Partido Republicano Português, que se manteve mais ou menos à margem da revolução do 5 de Outubro). A Carbonária (a nossa mãe) não era propriamente recomendável - era uma organização terrorista. Agora, foi aos pés de um dos seus homens - Machado Santos, herói e vítima da República, que se barricou na Rotunda até a monarquia cair - que devemos o sucesso do 5 de Outubro. Foi com a Carbonária que o famoso (porque todas as cidades do país lhe dedicaram uma rua) Almirante Cândido dos Reis preparou a revolução - que não viu vencer porque, sem comunicações com a Rotunda, e convencido de que os revoltosos tinham sido derrotados, se suicidou nesse 5 de Outubro. Deve ser por causa do terrorismo carbonário que o PR está preocupado com as "divisões entre portugueses". Mas pode-se sempre não falar nisso.
In Diário de Notícias, 6 de Outubro de 2006
quarta-feira, outubro 04, 2006
O real 5 de Outubro
por Paulo Gusmão
Consta que quinta-feira é feriado. Tem graça que, para um país que não comemora a sua fundação, não faltem feriados para revoluções. Como é fácil de adivinhar, não são coisa pela qual perca a cabeça. Fico-me pelo 1º de Dezembro. Na falta de um dia em que celebrarmos oitocentos anos, ao menos lembramos esta segunda oportunidade.
Mesmo assim, há forma de dar utilidade ao 5 de Outubro – belíssima data para o País reflectir sobre o regime político que foi democraticamente escolhido pela suave força das armas.
Claro que ainda há quem pense que é de lesa Pátria alinhavar argumentos em favor do trono, como se a Europa evoluída não fosse constitucionalmente monárquica. Não é preciso percorrer todo o norte da Europa, basta atravessar a fronteira para perceber que, mesmo ofertando sacas de telemóveis, a velha igualdade estatutária dos reinos ibéricos há muito que libertou esta lusa província económica. Embora financeiramente a casa civil deste pequeno país gaste mais 47%, sem pompa, do que, com circunstância, a casa real espanhola
Hoje todos condenamos que, em vez de nascer de razões, a república tenha assente a sua origem no sangue democrata, culto e genuinamente português de D. Carlos e do seu jovem filho, sob o olhar impotente da destroçada mãe e rainha Dona Amélia.
Hoje já aprendemos nos bancos da escola que afinal, quando veio a República, há muito que o País era um estado de direito democrático
A causa real é a afirmação da nossa identidade. O que é seguramente muito. Um Rei representa não só o Estado Democrático mas também a Nação, de cujos interesses permanentes é o guardião.
A monarquia não se impõe por revoluções, impõe-se pelas suas razões.
Nem é preciso derrubar a república, basta dar-lhe um Rei.
paulogusmao.blogs.sapo.pt
Paulo Gusmão
Advogado
Consta que quinta-feira é feriado. Tem graça que, para um país que não comemora a sua fundação, não faltem feriados para revoluções. Como é fácil de adivinhar, não são coisa pela qual perca a cabeça. Fico-me pelo 1º de Dezembro. Na falta de um dia em que celebrarmos oitocentos anos, ao menos lembramos esta segunda oportunidade.
Mesmo assim, há forma de dar utilidade ao 5 de Outubro – belíssima data para o País reflectir sobre o regime político que foi democraticamente escolhido pela suave força das armas.
Claro que ainda há quem pense que é de lesa Pátria alinhavar argumentos em favor do trono, como se a Europa evoluída não fosse constitucionalmente monárquica. Não é preciso percorrer todo o norte da Europa, basta atravessar a fronteira para perceber que, mesmo ofertando sacas de telemóveis, a velha igualdade estatutária dos reinos ibéricos há muito que libertou esta lusa província económica. Embora financeiramente a casa civil deste pequeno país gaste mais 47%, sem pompa, do que, com circunstância, a casa real espanhola
Hoje todos condenamos que, em vez de nascer de razões, a república tenha assente a sua origem no sangue democrata, culto e genuinamente português de D. Carlos e do seu jovem filho, sob o olhar impotente da destroçada mãe e rainha Dona Amélia.
Hoje já aprendemos nos bancos da escola que afinal, quando veio a República, há muito que o País era um estado de direito democrático
A causa real é a afirmação da nossa identidade. O que é seguramente muito. Um Rei representa não só o Estado Democrático mas também a Nação, de cujos interesses permanentes é o guardião.
A monarquia não se impõe por revoluções, impõe-se pelas suas razões.
Nem é preciso derrubar a república, basta dar-lhe um Rei.
paulogusmao.blogs.sapo.pt
Paulo Gusmão
Advogado
segunda-feira, outubro 02, 2006
Na morte de Oriana Fallaci
CARTA DO CANADÁ
por Fernanda Leitão
Para as mulheres jornalistas da minha geração, não alinhadas no comunismo, Françoise Giroud e Oriana Fallaci foram uma referência e até quase ícones. Tinham ambas estado na resistência activa contra o nazismo, não as tolhia o medo de dar opinião em voz alta, tratavam por tu os grandes do mundo, a francesa estava à frente de L´ÉXPRESS, a italiana era publicada nos maiores jornais de Itália e do mundo. A opinião delas pesava, era lida, era discutida. Ambas faziam da Liberdade o seu princípio de vida. Mas Oriana tinha uma lugar à parte na nossa carinhosa admiração, mesmo quando não concordávamos com todas as suas opiniões: era de uma rebeldia latina e castiça, que não recuava diante de nada. Um sangue mediterrânico que cabia inteiro naqueles cantos guerreiros da resistência, na Segunda Guerra Mundial, como aquele Bela Ciao que tão bem cantava a também já desaparecida Glicínia Quartin, em serões inesquecíveis na minha casa do Bairro Alto, quando se preparava para, com Eunice Muñoz e Lourdes Norberto, escrever nas tábuas do palco uma antológica interpretação de As Criadas. Oriana era do nosso sangue, aventureiro e ardente.
Oriana travou uma luta dolorosa de anos contra o cancro e, por isso, a sua morte era esperada. No entanto, a notícia da sua partida, há poucos tempo, foi um desgosto enorme.
O jornalismo responsável, empenhado e corajoso, ficou a dever muito a esta senhora. Portugal, também.
É que, em 1975, em pleno PREC, Oriana Fallaci deslocou-se a Lisboa para entrevistar Álvaro Cunhal, então na sua hora de poder. A visita de Oriana passou despercebida, naquele tumulto de acontecimentos, nem sequer foi apontada em qualquer jornal. Por esse tempo, todos os jornais estavam dominados com mão de ferro pelos comunistas, com destaque para o Diário de Notícias, onde José Saramago e Mário Ventura Henriques, ambos aproveitadores do capitalismo durante o salazarismo, mas sempre fiéis militantes do Partido Comunista, tinham lançado ao desemprego, dum dia para o outro, 24 jornalistas. O República tinha fechado, os jornais de direita estavam apreendidos e alguns dos seus directores presos, O Tempo começava a esboçar-se e os jornais de Vera Lagoa não tinham ainda visto a luz do sol, incluindo o que tinha por título o astro rei. Mas poucos dias depois, a entrevista de Oriana Fallaci foi publicada na íntegra num pequeno jornal de província, O Templário. E nos dias que se seguiram, grandes excertos da entrevista eram republicados em jornais regionais.
Como foi isso? E que importância tinha a entrevista para Portugal? Nesse tempo o Templário era minha propriedade e dirigido por mim. Fui procurada por dois jovens escritores socialistas, o Álvaro Guerra e o José Martins Garcia, ambos já mortos, que me perguntaram se o meu jornal poderia publicar o imprudente depoimento de Cunhal. Imediatamente eu disse que sim. E logo eles obtiveram de Oriana Fallaci o assentimento generoso e pronto. Essa publicação em Portugal, que obrigou o meu pequeno jornal a uma edição esgotada de 60 mil exemplares, depois multiplicados por inúmeras fotocópias que imundaram o país, fez toda a diferença. É que Cunhal, falando de papo com a jornalista sem lhe passar pela cabeça quem ela era e o poder que tinha, visivelmente mal informado pelos seus acólitos, fez a enormidade de declarar, de forma clara, que o seu partido nunca permitiria em Portugal uma democracia pluralista e parlamentar, e mais, que se houvesse de escolher entre essa democracia e uma “pinochada” da direita, preferia esta última. Cunhal e os acólitos, que traziam sempre na boca as “conquistas democráticas”, tiraram a máscara por iniciativa do secretário geral. De repente, Portugal inteiro ficou sem ilusões acerca do Partido Comunista. Essa entrevista foi um momento de viragem na medida em que tirou as ilusões a quem as tinha e reforçou a aversão pelo comunismo dos já recalcitrantes.
Eu não poderia ter recebido maior honra e privilégio, e assim o disse na carta em que agradeci a Oriana Fallaci, enviada ao cuidado do Corriere della Sera. Ainda por cima tive outro prémio, que guardo com risonha ternura. Descendo a Avenida da Liberdade, vi um estendal de livros à venda com dois foliões à testa do negócio. Eram anarquistas. Parei a ver a mercadoria, a rir-me, porque tinham de facto muita piada, e dei com os olhos num livreco vermelho, com um furo no canto superior esquerdo, por onde estava pendurado com um vulgar cordel, atado ao pau de um cartaz. Chamava-se O LIVRO VERMELHO DO GALO DE BARCELOS. Comprei-o. Passei um serão a rir com verdadeiros achados que lá vinham. E fiquei de boca aberta quando deparei com uma crónica minha, justamente aquela em que fiz uma enorme farra à volta do Cunhal, do pato, do Tengarrinha e quejandos, por causa da entrevista em que Oriana Fallaci estendeu ao comprido o papa do comunismo português. Não podia ter tido melhor prémio, se é que os jornalistas merecem prémios.
por Fernanda Leitão
Para as mulheres jornalistas da minha geração, não alinhadas no comunismo, Françoise Giroud e Oriana Fallaci foram uma referência e até quase ícones. Tinham ambas estado na resistência activa contra o nazismo, não as tolhia o medo de dar opinião em voz alta, tratavam por tu os grandes do mundo, a francesa estava à frente de L´ÉXPRESS, a italiana era publicada nos maiores jornais de Itália e do mundo. A opinião delas pesava, era lida, era discutida. Ambas faziam da Liberdade o seu princípio de vida. Mas Oriana tinha uma lugar à parte na nossa carinhosa admiração, mesmo quando não concordávamos com todas as suas opiniões: era de uma rebeldia latina e castiça, que não recuava diante de nada. Um sangue mediterrânico que cabia inteiro naqueles cantos guerreiros da resistência, na Segunda Guerra Mundial, como aquele Bela Ciao que tão bem cantava a também já desaparecida Glicínia Quartin, em serões inesquecíveis na minha casa do Bairro Alto, quando se preparava para, com Eunice Muñoz e Lourdes Norberto, escrever nas tábuas do palco uma antológica interpretação de As Criadas. Oriana era do nosso sangue, aventureiro e ardente.
Oriana travou uma luta dolorosa de anos contra o cancro e, por isso, a sua morte era esperada. No entanto, a notícia da sua partida, há poucos tempo, foi um desgosto enorme.
O jornalismo responsável, empenhado e corajoso, ficou a dever muito a esta senhora. Portugal, também.
É que, em 1975, em pleno PREC, Oriana Fallaci deslocou-se a Lisboa para entrevistar Álvaro Cunhal, então na sua hora de poder. A visita de Oriana passou despercebida, naquele tumulto de acontecimentos, nem sequer foi apontada em qualquer jornal. Por esse tempo, todos os jornais estavam dominados com mão de ferro pelos comunistas, com destaque para o Diário de Notícias, onde José Saramago e Mário Ventura Henriques, ambos aproveitadores do capitalismo durante o salazarismo, mas sempre fiéis militantes do Partido Comunista, tinham lançado ao desemprego, dum dia para o outro, 24 jornalistas. O República tinha fechado, os jornais de direita estavam apreendidos e alguns dos seus directores presos, O Tempo começava a esboçar-se e os jornais de Vera Lagoa não tinham ainda visto a luz do sol, incluindo o que tinha por título o astro rei. Mas poucos dias depois, a entrevista de Oriana Fallaci foi publicada na íntegra num pequeno jornal de província, O Templário. E nos dias que se seguiram, grandes excertos da entrevista eram republicados em jornais regionais.
Como foi isso? E que importância tinha a entrevista para Portugal? Nesse tempo o Templário era minha propriedade e dirigido por mim. Fui procurada por dois jovens escritores socialistas, o Álvaro Guerra e o José Martins Garcia, ambos já mortos, que me perguntaram se o meu jornal poderia publicar o imprudente depoimento de Cunhal. Imediatamente eu disse que sim. E logo eles obtiveram de Oriana Fallaci o assentimento generoso e pronto. Essa publicação em Portugal, que obrigou o meu pequeno jornal a uma edição esgotada de 60 mil exemplares, depois multiplicados por inúmeras fotocópias que imundaram o país, fez toda a diferença. É que Cunhal, falando de papo com a jornalista sem lhe passar pela cabeça quem ela era e o poder que tinha, visivelmente mal informado pelos seus acólitos, fez a enormidade de declarar, de forma clara, que o seu partido nunca permitiria em Portugal uma democracia pluralista e parlamentar, e mais, que se houvesse de escolher entre essa democracia e uma “pinochada” da direita, preferia esta última. Cunhal e os acólitos, que traziam sempre na boca as “conquistas democráticas”, tiraram a máscara por iniciativa do secretário geral. De repente, Portugal inteiro ficou sem ilusões acerca do Partido Comunista. Essa entrevista foi um momento de viragem na medida em que tirou as ilusões a quem as tinha e reforçou a aversão pelo comunismo dos já recalcitrantes.
Eu não poderia ter recebido maior honra e privilégio, e assim o disse na carta em que agradeci a Oriana Fallaci, enviada ao cuidado do Corriere della Sera. Ainda por cima tive outro prémio, que guardo com risonha ternura. Descendo a Avenida da Liberdade, vi um estendal de livros à venda com dois foliões à testa do negócio. Eram anarquistas. Parei a ver a mercadoria, a rir-me, porque tinham de facto muita piada, e dei com os olhos num livreco vermelho, com um furo no canto superior esquerdo, por onde estava pendurado com um vulgar cordel, atado ao pau de um cartaz. Chamava-se O LIVRO VERMELHO DO GALO DE BARCELOS. Comprei-o. Passei um serão a rir com verdadeiros achados que lá vinham. E fiquei de boca aberta quando deparei com uma crónica minha, justamente aquela em que fiz uma enorme farra à volta do Cunhal, do pato, do Tengarrinha e quejandos, por causa da entrevista em que Oriana Fallaci estendeu ao comprido o papa do comunismo português. Não podia ter tido melhor prémio, se é que os jornalistas merecem prémios.
domingo, setembro 24, 2006
O Discurso do Santo Padre
O Discurso do Santo Padre em Regensburg merece uma leitura muito atenta.
Abordando o actual divórcio entre a Razão e a Fé, que tem vindo a colocar a Teologia à margem dos estudos universitários, o Santo Padre realiza aqui uma magistral “crítica da razão moderna a partir do seu interior”, identificando com claridade as três vagas contrárias à síntese entre o espírito grego e o espírito cristão, base da filosofia de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, pilares maiores do pensamento da Igreja.
A primeira vaga teve prenúncio no voluntarismo de Duns Scott, afirmou-se e cresceu no protestantismo da sola Scriptura, para vir a espraiar em Emmanuel Kant, ao pretender alicerçar a fé exclusivamente na razão prática (1); seguiu-se a vaga da teologia liberal dos séculos XIX e XX, que, conformando-se com o cientismo então muito difundido nas universidades, suspendeu a divindade de Cristo e a trindade de Deus, e acabou por reduzir Jesus a um mero “pai de uma mensagem moral humanitária” (2); e, por fim, a vaga actual que pretende subtrair as diversas culturas à inculturação grega (3).
"No princípio era o λόγος"... “É precisamente esta a mesma palavra que o imperador usa: Deus age "σὺν λόγω", com logos. Logos significa ao mesmo tempo razão e palavra; uma razão que é criadora e capaz precisamente de se comunicar mas como razão.”
"«Não agir segundo razão, não agir com o logos, é contrário à natureza de Deus», disse Manuel II, partindo da sua imagem cristã de Deus, ao interlocutor persa”.
Nas universidades do mundo ocidental, porém, domina hoje a opinião de que só a razão positivista é universal. Ora "uma razão, que diante do divino é surda e rejeita a religião do âmbito das subculturas, é incapaz de se inserir no diálogo das culturas.”
O mundo de hoje exige o diálogo de culturas. Para que esse diálogo seja possível é necessário incluir o divino na universalidade da razão. Essa é a grande tarefa da Teologia na universidade, conclui o Papa Bento XVI .
José Manuel Quintas
VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA BENTO XVI A MÜNCHEN, ALTÖTTING E REGENSBURG (9-14 DE SETEMBRO DE 2006)
DISCURSO DO SANTO PADRE AOS REPRESENTANTES DO MUNDO CIENTÍFICO E CULTURAL DA BAVIERA NA AULA MAGNA DA UNIVERSIDADE DE REGENSBURG
Terça-feira, 12 de Setembro de 2006
"Fé, razão e universidade. Recordações e reflexões"
Eminências Magnificências Excelências Ilustres Senhores Gentis Senhoras
É para mim um momento emocionante encontrar-me de novo na universidade e poder mais uma vez pronunciar uma lição. Os meus pensamentos, contemporaneamente, voltam àqueles anos em que, depois de um grande período passado no Instituto superior de Freising, comecei a minha actividade de professor académico na universidade de Bonn. Era em 1959 ainda o tempo da velha universidade dos professores ordinários. Para cada uma das cátedras não existiam nem assistentes nem dactilógrafos, mas em compensação havia um contacto muito directo com os estudantes e sobretudo também entre os professores. Encontrávamo-nos primeiro e depois das lições nas salas dos professores. Os contactos com os historiadores, os filósofos, os filólogos e naturalmente também entre as duas faculdades teológicas eram muito estreitos. Uma vez por semestre fazia-se o chamado dies academicus, no qual professores de todas as faculdades se apresentavam diante dos estudantes de toda a universidade, tornando assim possível uma experiência de universitas uma coisa à qual também o Senhor, Magnífico Reitor, se referiu há pouco, isto é, a experiência, o facto de que nós não obstante todas as especializações, que por vezes nos tornam incapazes de comunicar entre nós, formamos um todo e trabalhamos no todo da única razão com as suas várias dimensões, estando assim juntos também na responsabilidade comum pelo recto uso da razão este facto torna-se experiência viva.
Sem dúvida, a universidade era orgulhosa também das suas duas faculdades teológicas. Era claro que também elas, interrogando-se sobre a racionalidade da fé, desempenham uma obra que necessariamente faz parte do "todo" da universitas scientiarum, mesmo se nem todos podiam partilhar a fé, para cuja co-relação com a razão comum se comprometem os teólogos. Esta unidade interior no universo da razão não foi perturbada nem sequer quando certa vez filtrou a notícia de que um dos colegas dissera que na nossa universidade havia algo de anormal: duas faculdades que se ocupavam de uma coisa que não existia, de Deus. Que mesmo perante um cepticismo tão radical seja necessário e normal interrogar-se sobre Deus através da razão e isto deva ser feito no contexto da tradição da fé cristã: no conjunto da universidade, isto era uma convicção fora de questão.
Tudo me voltou à mente, quando li a parte publicada pelo professor Theodore Khoury (Münster) do diálogo que o douto imperador bizantino Manuel II, Paleólogo, talvez durante os meses do Inverno de 1391 em Ankara, teve com um persa culto sobre cristianismo e islão e sobre a verdade de ambos. Talvez tenha sido depois o próprio imperador quem escreveu, durante o assédio de Constantinopla entre 1394 e 1402, este diálogo; explica-se assim por que os seus raciocínios sejam referidos de modo muito mais pormenorizado do que os do seu interlocutor persa. O diálogo alarga-se sobre todo o âmbito das estruturas da fé contidas na Bíblia e no Alcorão e detém-se sobretudo sobre a imagem de Deus e do homem, mas necessariamente também sempre de novo sobre a relação entre as como se dizia três "Leis" ou três "ordens de vida": Antigo Testamento, Novo Testamento, Alcorão. Não desejo falar disto nesta lição; gostaria de tratar só um assunto bastante marginal na estrutura de todo o diálogo que, no contexto do tema "fé e razão", me fascinou e me servirá como ponto de partida para as minhas reflexões sobre este tema.
No sétimo colóquio (διάλεξις, controvérsia) publicado pelo Prof. Khoury, o imperador enfrenta o tema da jihād, da guerra santa. Certamente o imperador sabia que na sua sura 2, 256 se lê: "Nenhuma coacção nas coisas de fé". É uma das suras do período inicial, dizem os peritos, em que o próprio Maomé ainda não tinha poder e estava ameaçado. Mas, naturalmente, o imperador conhecia também as disposições, desenvolvidas sucessivamente e fixadas no Alcorão, sobre a guerra santa.
Sem se deter em pormenores, como a diferença de tratamento entre os que possuem o "Livro" e os "incrédulos" ele, de modo tão brusco que nos surpreende, dirige-se ao seu interlocutor simplesmente com a pergunta central sobre a relação entre religião e violência em geral, dizendo: "Mostra-me também o que Maomé trouxe de novo, e encontrarás apenas coisas más e desumanas, como a sua ordem de difundir através da espada a fé que ele pregava".
O imperador, depois de se ter pronunciado de modo tão duro, explica minuciosamente as razões pelas quais a difusão da fé mediante a violência é irracional. A violência está em contraste com a natureza de Deus e a natureza da alma. "Deus não se apraz com o sangue diz ele não agir segundo a razão "σὺν λόγω", é contrário à natureza de Deus. A fé é fruto da alma, não do corpo. Por conseguinte, quem quiser levar alguém à fé precisa da capacidade de falar bem e de raciocinar correctamente, e não da violência e da ameaça... Para convencer uma alma racional não é necessário dispor nem do próprio braço, nem de instrumentos para ferir nem de qualquer outro meio com o qual se possa ameaçar de morte uma pessoa...".
A afirmação decisiva nesta argumentação contra a conversão mediante a violência é: não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus. O editor, Theodore Khoury, comenta: para o imperador, sendo um bizantino que cresceu na filosofia grega, esta afirmação é evidente. Para a doutrina muçulmana, ao contrário, Deus é absolutamente transcendente. A sua vontade não está relacionada com nenhuma das nossas categorias, mesmo que fosse a da racionalidade. Neste contexto Khoury cita uma obra do conhecido islamita francês R. Arnaldez, o qual ressalta que Ibn Hazm chega a declarar que Deus não estaria relacionado nem sequer com a sua própria palavra e que nada o obrigaria a revelar a nós a verdade. Se fosse a sua vontade, o homem deveria praticar também a idolatria.
A este ponto abre-se, na compreensão de Deus e por conseguinte na realização concreta da religião, um dilema que hoje nos desafia de maneira muito directa. A convicção de que agir contra a razão esteja em contradição com a natureza de Deus, é apenas um pensamento grego ou é sempre válido e por si mesmo? Penso que neste ponto se manifeste a profunda concordância entre o que é grego no sentido melhor e o que é fé em Deus sobre o fundamento da Bíblia. Modificando o primeiro versículo do Livro do Génesis, o primeiro versículo de toda a Sagrada Escritura, João iniciou o prólogo do seu Evangelho com as palavras: "No princípio era o λόγος". É precisamente esta a mesma palavra que o imperador usa: Deus age "σὺν λόγω", com logos. Logos significa ao mesmo tempo razão e palavra, uma razão que é criadora e capaz precisamente de se comunicar mas como razão. Com isto João deu-nos a palavra conclusiva sobre o conceito bíblico de Deus, a palavra na qual todos os caminhos muitas vezes cansativos e sinuosos da fé bíblica alcançam a sua meta, encontram a sua síntese.
No princípio era o logos, e o logos é Deus, diz-nos o evangelista. O encontro entre a mensagem bíblica e o pensamento grego não era um simples caso. A visão de São Paulo, diante da qual se tinham fechado os caminhos da Ásia e que, em sonho, viu um Macedónio e ouviu a sua súplica: "Vem para a Macedónia e ajuda-nos" (cf. Act 16, 6-10) esta visão pode ser interpretada como uma "condensação" da necessidade intrínseca de uma aproximação entre fé bíblica e o interrogar-se grego.
Na realidade, esta aproximação já tinha sido iniciada desde há muito tempo. Já o nome misterioso de Deus na sarça ardente, que afasta este Deus do conjunto das divindades com numerosos nomes afirmando apenas o seu "Eu sou", o seu ser, é, em relação ao mito, uma contestação com a qual está em íntima analogia a tentativa de Sócrates de vencer e superar o próprio mito. O processo iniciado na sarça alcança, no Antigo Testamento, uma nova maturidade durante o exílio, onde o Deus de Israel, agora privado da Terra e do culto, se anuncia como o Deus do céu e da terra, apresentando-se com uma simples fórmula que prolonga a palavra da sarça: "Eu sou".
Com este novo conhecimento de Deus caminha em sintonia uma espécie de iluminismo, que se expressa de maneira drástica no escárnio das divindades que seriam apenas obra das mãos do homem (cf. Sl 115). Assim, não obstante toda a dureza do desacordo com os soberanos helenistas, que queriam obter com a força a adaptação ao estilo de vida grego e ao seu culto idolátrico, a fé bíblica, durante a época helenista, ia interiormente ao encontro da parte melhor do pensamento grego, até chegar a um contacto recíproco que depois se realizou especialmente na literatura sapiencial tardia.
Hoje nós sabemos que a tradução grega do Antigo Testamento, realizada em Alexandria a "Septuaginta" é mais que uma simples tradução (que talvez se deva avaliar de modo pouco positivo) do texto hebraico: de facto, é um testemunho textual distinto e um especifico e importante passo da história da Revelação, no qual se realizou este encontro de uma forma que para o nascimento do cristianismo e para a sua divulgação teve um significado decisivo. No fundo, trata-se do encontro entre fé e razão, entre autêntico iluminismo e religião. Partindo verdadeiramente da natureza íntima da fé cristã e, ao mesmo tempo, da natureza do pensamento grego já fundido com a fé, Manuel II podia dizer: Não agir "com o logos" é contrário à natureza de Deus.
Honestamente é preciso anotar a este ponto que, no final da Idade Média, se desenvolveram na teologia tendências que rompem esta síntese entre espírito grego e espírito cristão. Em contraste com o chamado intelectualismo agostiniano e tomista iniciou com Duns Scott uma orientação voluntária, a qual no fim, nos desenvolvimentos sucessivos, levou à afirmação de que nós de Deus só conheceremos a voluntas ordinata. Para além dela existiria a liberdade de Deus, em virtude da qual Ele teria podido criar e fazer também o contrário de tudo o que efectivamente fez.
Aqui vêem-se posições que, sem dúvida, se podem aproximar às de Ibn Hazm e poderiam conduzir até à imagem de um Deus-Arbítrio, que não está relacionado nem com a verdade nem com o bem. A transcendência e a diversidade de Deus são acentuadas de modo tão exagerado, que também a nossa razão, o nosso sentido do verdadeiro e do bem já não são um verdadeiro espelho de Deus, cujas possibilidades abismais permanecem para nós eternamente inalcançáveis e escondidas por detrás das suas decisões efectivas.
Em contraste com isto, a fé da Igreja sempre se ateve à convicção de que entre Deus e nós, entre o seu eterno Espírito criador e a nossa razão criada, existe uma verdadeira analogia, na qual, como disse o Concílio Lateranense IV em 1215, sem dúvida as diferenças são infinitamente maiores que as semelhanças, mas contudo não até ao ponto de abolir a analogia e a sua linguagem. Deus não é mais divino pelo facto de que o afastamos para longe de nós num voluntarismo puro e impenetrável, mas o Deus verdadeiramente divino é aquele Deus que se mostrou como logos e como logos agiu e age cheio de amor em nosso favor. Sem dúvida, o amor, como diz Paulo, "ultrapassa" o conhecimento e é por isto capaz de compreender mais do que o simples pensamento (cf. Ef 3, 19), contudo ele permanece o amor do Deus-Logos, para o qual o culto cristão é, como diz ainda Paulo "λογικη λατρεία" um culto que concorda com o Verbo eterno e com a nossa razão (cf. Rm 12, 1).
A aqui mencionada recíproca aproximação interior, que se teve entre a fé bíblica e o interrogar-se sobre o plano filosófico do pensamento grego, é um elemento de importância decisiva não só sob o ponto de vista da história das religiões, mas também sob o ponto de vista da história universal um elemento que nos compromete também hoje. Considerado este encontro, não surpreende que o cristianismo, apesar da sua origem e de alguns seus desenvolvimentos importantes no Oriente, tenha por fim encontrado a sua marca historicamente decisiva na Europa. Podemos expressar isto também inversamente: este encontro, ao qual se acrescenta sucessivamente ainda o património de Roma, criou a Europa e permanece o fundamento do que, com razão, se pode chamar Europa.
À tese que o património grego, criticamente purificado, seja uma parte integrante da fé cristã, opõe-se o requerimento da deselenização do cristianismo, um requerimento que desde o início da idade moderna domina de modo crescente a pesquisa teológica. Visto mais de perto, podem-se observar três ondas no programa da deselenização: apesar de estarem relacionadas entre si, elas nas suas motivações e nos seus objectivos são claramente distintas uma da outra.
A deselenização emerge primeiro em ligação com os postulados da Reforma do século XVI. Considerando a tradição das escolas teológicas, os reformadores vêem-se diante de uma sistematização da fé condicionada totalmente pela filosofia, isto é, perante uma determinação da fé a partir de fora em virtude de um modo de pensar que não derivava dela. Assim a fé já não se apresentava como palavra histórica viva, mas como elemento inserido na estrutura de um sistema filosófico.
A sola Scriptura ao contrário procura a forma pura primordial da fé, do modo como está presente originariamente na Palavra bíblica. A metafísica aparece como um pressuposto derivante de outra fonte, da qual é necessário libertar a fé para a fazer voltar a ser totalmente ela mesma. Com a sua afirmação de ter que pôr de lado o pensar para dar espaço à fé, Kant agiu com base neste programa com uma radicalidade imprevisível para os reformadores. Com isto ele ancorou a fé exclusivamente à razão prática, negando-lhe o total acesso à realidade.
A teologia liberal dos séculos XIX e XX trouxe uma segunda onda no programa da deselenização: seu representante eminente é Adolf von Harnack. Durante o tempo dos meus estudos, como nos primeiros anos da minha actividade académica, este programa era fortemente operante também na teologia católica. Como ponto de partida era feita a distinção de Pascal entre o Deus dos filósofos e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. No meu discurso em Bonn, em 1959, procurei enfrentar este assunto e não pretendo retomar aqui todo o discurso. Mas gostaria de tentar ressaltar pelo menos em síntese a novidade que caracterizava esta segunda onda de deselenização em relação à primeira.
Como pensamento central sobressai, em Harnack, o regresso simplesmente ao homem Jesus e à sua mensagem simples, que viria antes de todas as teologizações e, precisamente, também antes das helenizações: seria esta mensagem simples que constituiria o verdadeiro ápice do desenvolvimento religioso da humanidade. Jesus teria dado um adeus ao culto em favor da moral. Em conclusão, Ele é representado como pai de uma mensagem moral humanitária.
A finalidade de Harnack no fundo é reconduzir o cristianismo em harmonia com a razão moderna, libertando-o, precisamente, de elementos aparentemente filosóficos e teológicos, como por exemplo a fé na divindade de Cristo e na trindade de Deus.
Neste sentido, a exegese histórico-crítica do Novo Testamento, na sua visão, coloca novamente a teologia no cosmos da universidade: teologia, para Harnack, é algo essencialmente histórico e, portanto, estrictamente científico. O que ela indaga sobre Jesus mediante a critica é, por assim dizer, expressão da razão prática e por conseguinte também sustentável no conjunto da universidade. Na base encontra-se a autolimitação moderna da razão, expressa de maneira clássica nas "críticas" de Kant, que entretanto foi ulteriormente radicalizada pelo pensamento das ciências naturais. Este conceito moderno da razão baseia-se, em síntese, num resumo entre platonismo (cartesianismo) e empirismo, que o sucesso técnico confirmou.
Por um lado pressupõe-se a estrutura matemática da matéria, a sua por assim dizer racionalidade intrínseca, que torna possível compreendê-la e usá-la na sua eficiência concreta: este pressuposto básico é, por assim dizer, o elemento platónico no conceito moderno da natureza. Por outro lado, trata-se da utilizabilidade funcional da natureza para as nossas finalidades, onde só a possibilidade de controlar a verdade ou a falsidade mediante a experiência fornece a certeza decisiva. O peso entre os dois pólos pode, segundo as circunstâncias, estar mais de uma ou mais da outra parte. Um pensador tão estreitamente positivista como J. Monod declarou-se platónico convicto.
Isto exige duas orientações fundamentais decisivas para a nossa questão. Só o tipo de certezas derivantes da sinergia de matemática e empírica nos permite falar de cientificidade. O que pretende ser ciência deve confrontar-se com este critério. E assim também as ciências que se referem às coisas humanas, como a história, a psicologia, a sociologia e a filosofia procuravam aproximar-se deste cânone da cientificidade. Contudo, é importante para as nossas reflexões o facto de que o método como tal exclui o problema Deus, apresentando-o como um problema acientífico ou pré-científico. Portanto, com isto encontramo-nos diante de uma redução do leque de ciência e razão que é obrigatório pôr em questão.
Voltarei ainda sobre este assunto. Neste momento é suficiente ter presente que, numa tentativa de conservar o carácter de disciplina "científica" da teologia à luz desta perspectiva, do cristianismo restaria apenas um miserável fragmento. Mas devemos dizer mais: se a ciência no seu conjunto é apenas isto, então é o próprio homem que, com isto, sofre uma redução. Mas as interrogações propriamente humanas, isto é, as do "de onde" e do "para onde", os questionamentos da religião e do ethos, não podem encontrar lugar no espaço da razão comum descrita pela "ciência" entendida deste modo e devem ser deslocados no âmbito do subjectivo. O sujeito decide, com base nas suas experiências, o que lhe parece religiosamente sustentável, e a "consciência" subjectiva torna-se portanto a única exigência ética.
Mas, desta forma o ethos e a religião perdem a força de criar uma comunidade e terminam no âmbito da discricionalidade pessoal. Esta é uma condição perigosa para a humanidade: verificamos isto nas patologias ameaçadoras da religião e da razão, patologias que necessariamente devem manifestar-se, quando a razão é limitada a tal ponto que as questões da religião e do ethos já não lhe dizem respeito. O que permanece das tentativas de construir uma ética partindo das regras da evolução ou da psicologia e da sociologia, é simplesmente insuficiente.
Antes de chegar às conclusões que todo este raciocínio tem por finalidade, devo mencionar ainda em breve a terceira onda de deselenização que se difunde actualmente. Em consideração do encontro com a multiplicidade das culturas hoje há quem goste de dizer que a síntese com o helenismo, realizada na Igreja antiga, teria sido uma primeira inculturação, que não deveria vincular as outras culturas. Isto deveria ter o direito de retroceder até ao ponto que precedia aquela inculturação para descobrir a simples mensagem do Novo Testamento e inculturá-la depois novamente nos seus respectivos ambientes.
Esta tese não é simplesmente errada; contudo é grosseira e imprecisa. De facto, o Novo Testamento foi escrito em grego e tem em si o contacto com o espírito grego, um contacto que se tinha maturado no desenvolvimento precedente do Antigo Testamento. Sem dúvida existem elementos no processo formativo da Igreja antiga que não devem ser integrados em todas as culturas. Mas as decisões de fundo que, precisamente, se referem ao relacionamento da fé com a investigação da razão humana, estas decisões de fundo pertencem à própria fé e são os seus desenvolvimentos, conformes com a sua natureza.
Com isto chego à conclusão. Esta tentativa, feita apenas em linhas gerais, de crítica da razão moderna a partir do seu interior, não inclui absolutamente a opinião de que agora se deva voltar atrás, à época anterior ao iluminismo, rejeitando as convicções da era moderna. Aquilo que no desenvolvimento moderno do espírito é válido, é reconhecido sem hesitações: todos estamos gratos pelas grandiosas possibilidades que ele abriu ao homem e pelos progressos no campo humano que nos foram proporcionados. O ethos da cientificidade, afinal, é como Vossa Magnificência mencionou, vontade de obediência à verdade e, por conseguinte, expressão de uma atitude que faz parte das decisões fundamentais do espírito cristão.
Por conseguinte, a intenção não é retracção, nem crítica negativa; ao contrário, trata-se de um alargamento do nosso conceito de razão e do seu uso. Porque com toda a alegria diante das possibilidades do homem, vemos também as ameaças que sobressaem destas possibilidades e devemos perguntar-nos como podemos dominá-las. Só o conseguiremos se razão e fé estiverem unidas de uma nova forma; se superarmos a limitação autodecretada da razão ao que é verificável na experiência, e lhe abrirmos de novo toda a sua vastidão. Neste sentido, a teologia, não só como disciplina histórica e humano-científica, mas como verdadeira teologia, ou seja, como interrogação sobre a razão da fé, deve ter o seu lugar na universidade e no amplo diálogo das ciências.
Só assim nos tornamos também capazes de um verdadeiro diálogo das culturas e das religiões um diálogo do qual temos urgente necessidade. No mundo ocidental domina amplamente a opinião de que só a razão positivista e as formas de filosofia dela derivantes sejam universais. Mas as culturas profundamente religiosas do mundo vêem precisamente nesta exclusão do divino da universalidade da razão um ataque às suas convicções mais íntimas. Uma razão, que diante do divino é surda e rejeita a religião do âmbito das subculturas, é incapaz de se inserir no diálogo das culturas.
Contudo, a razão moderna típica das ciências naturais, com o seu elemento platónico intrínseco, tem em si, como procurei demonstrar, uma pergunta que a transcende juntamente com as suas possibilidades metódicas. Ela mesma deve simplesmente aceitar a estrutura racional da matéria e a correspondência entre o nosso espírito e as estruturas racionais actuantes na natureza como um dado de facto, sobre o qual se baseia o seu percurso metódico. Mas a pergunta acerca do porque deste dado de facto existe e deve ser confiada pelas ciências naturais a outros níveis e modos do pensar à filosofia e à teologia.
Para a filosofia e, de maneira diferente, para a teologia, ouvir as grandes experiências e convicções das tradições religiosas da humanidade, especialmente a da fé crista, constitui uma fonte de conhecimento; recusar-se significaria uma limitação inaceitável do nosso ouvir e responder.
Vêm-me à mente a este ponto uma palavra de Sócrates a Fédon. Nos diálogos precedentes tinham sido tratadas muitas opiniões filosóficas erradas, e então Sócrates diz: "Seria muito compreensível se alguém, devido à irritação por tantas coisas erradas, para o resto da sua vida desprezasse qualquer discurso sobre o ser ou o denegrisse. Mas desta forma perderia a verdade do ser e sofreria um grande dano".
O ocidente, desde há muito tempo, está ameaçado por esta repulsa contra os questionamentos fundamentais da sua razão, e assim poderia sofrer unicamente um grande dano. A coragem de se abrir à vastidão da razão, não a rejeição da sua grandeza este é o programa com que uma teologia comprometida na reflexão sobre a fé bíblica, entra no debate do tempo presente. "Não agir segundo razão, não agir com o logos, é contrário à natureza de Deus", disse Manuel II, partindo da sua imagem cristã de Deus, ao interlocutor persa. Para este grande logos, para esta vastidão da razão, convidamos os nossos interlocutores no diálogo das culturas. Encontrá-la nós próprios sempre de novo, é a grande tarefa da universidade.
(negritos acrescentados)
© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana
Abordando o actual divórcio entre a Razão e a Fé, que tem vindo a colocar a Teologia à margem dos estudos universitários, o Santo Padre realiza aqui uma magistral “crítica da razão moderna a partir do seu interior”, identificando com claridade as três vagas contrárias à síntese entre o espírito grego e o espírito cristão, base da filosofia de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, pilares maiores do pensamento da Igreja.
A primeira vaga teve prenúncio no voluntarismo de Duns Scott, afirmou-se e cresceu no protestantismo da sola Scriptura, para vir a espraiar em Emmanuel Kant, ao pretender alicerçar a fé exclusivamente na razão prática (1); seguiu-se a vaga da teologia liberal dos séculos XIX e XX, que, conformando-se com o cientismo então muito difundido nas universidades, suspendeu a divindade de Cristo e a trindade de Deus, e acabou por reduzir Jesus a um mero “pai de uma mensagem moral humanitária” (2); e, por fim, a vaga actual que pretende subtrair as diversas culturas à inculturação grega (3).
"No princípio era o λόγος"... “É precisamente esta a mesma palavra que o imperador usa: Deus age "σὺν λόγω", com logos. Logos significa ao mesmo tempo razão e palavra; uma razão que é criadora e capaz precisamente de se comunicar mas como razão.”
"«Não agir segundo razão, não agir com o logos, é contrário à natureza de Deus», disse Manuel II, partindo da sua imagem cristã de Deus, ao interlocutor persa”.
Nas universidades do mundo ocidental, porém, domina hoje a opinião de que só a razão positivista é universal. Ora "uma razão, que diante do divino é surda e rejeita a religião do âmbito das subculturas, é incapaz de se inserir no diálogo das culturas.”
O mundo de hoje exige o diálogo de culturas. Para que esse diálogo seja possível é necessário incluir o divino na universalidade da razão. Essa é a grande tarefa da Teologia na universidade, conclui o Papa Bento XVI .
José Manuel Quintas
VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA BENTO XVI A MÜNCHEN, ALTÖTTING E REGENSBURG (9-14 DE SETEMBRO DE 2006)
DISCURSO DO SANTO PADRE AOS REPRESENTANTES DO MUNDO CIENTÍFICO E CULTURAL DA BAVIERA NA AULA MAGNA DA UNIVERSIDADE DE REGENSBURG
Terça-feira, 12 de Setembro de 2006
"Fé, razão e universidade. Recordações e reflexões"
Eminências Magnificências Excelências Ilustres Senhores Gentis Senhoras
É para mim um momento emocionante encontrar-me de novo na universidade e poder mais uma vez pronunciar uma lição. Os meus pensamentos, contemporaneamente, voltam àqueles anos em que, depois de um grande período passado no Instituto superior de Freising, comecei a minha actividade de professor académico na universidade de Bonn. Era em 1959 ainda o tempo da velha universidade dos professores ordinários. Para cada uma das cátedras não existiam nem assistentes nem dactilógrafos, mas em compensação havia um contacto muito directo com os estudantes e sobretudo também entre os professores. Encontrávamo-nos primeiro e depois das lições nas salas dos professores. Os contactos com os historiadores, os filósofos, os filólogos e naturalmente também entre as duas faculdades teológicas eram muito estreitos. Uma vez por semestre fazia-se o chamado dies academicus, no qual professores de todas as faculdades se apresentavam diante dos estudantes de toda a universidade, tornando assim possível uma experiência de universitas uma coisa à qual também o Senhor, Magnífico Reitor, se referiu há pouco, isto é, a experiência, o facto de que nós não obstante todas as especializações, que por vezes nos tornam incapazes de comunicar entre nós, formamos um todo e trabalhamos no todo da única razão com as suas várias dimensões, estando assim juntos também na responsabilidade comum pelo recto uso da razão este facto torna-se experiência viva.
Sem dúvida, a universidade era orgulhosa também das suas duas faculdades teológicas. Era claro que também elas, interrogando-se sobre a racionalidade da fé, desempenham uma obra que necessariamente faz parte do "todo" da universitas scientiarum, mesmo se nem todos podiam partilhar a fé, para cuja co-relação com a razão comum se comprometem os teólogos. Esta unidade interior no universo da razão não foi perturbada nem sequer quando certa vez filtrou a notícia de que um dos colegas dissera que na nossa universidade havia algo de anormal: duas faculdades que se ocupavam de uma coisa que não existia, de Deus. Que mesmo perante um cepticismo tão radical seja necessário e normal interrogar-se sobre Deus através da razão e isto deva ser feito no contexto da tradição da fé cristã: no conjunto da universidade, isto era uma convicção fora de questão.
Tudo me voltou à mente, quando li a parte publicada pelo professor Theodore Khoury (Münster) do diálogo que o douto imperador bizantino Manuel II, Paleólogo, talvez durante os meses do Inverno de 1391 em Ankara, teve com um persa culto sobre cristianismo e islão e sobre a verdade de ambos. Talvez tenha sido depois o próprio imperador quem escreveu, durante o assédio de Constantinopla entre 1394 e 1402, este diálogo; explica-se assim por que os seus raciocínios sejam referidos de modo muito mais pormenorizado do que os do seu interlocutor persa. O diálogo alarga-se sobre todo o âmbito das estruturas da fé contidas na Bíblia e no Alcorão e detém-se sobretudo sobre a imagem de Deus e do homem, mas necessariamente também sempre de novo sobre a relação entre as como se dizia três "Leis" ou três "ordens de vida": Antigo Testamento, Novo Testamento, Alcorão. Não desejo falar disto nesta lição; gostaria de tratar só um assunto bastante marginal na estrutura de todo o diálogo que, no contexto do tema "fé e razão", me fascinou e me servirá como ponto de partida para as minhas reflexões sobre este tema.
No sétimo colóquio (διάλεξις, controvérsia) publicado pelo Prof. Khoury, o imperador enfrenta o tema da jihād, da guerra santa. Certamente o imperador sabia que na sua sura 2, 256 se lê: "Nenhuma coacção nas coisas de fé". É uma das suras do período inicial, dizem os peritos, em que o próprio Maomé ainda não tinha poder e estava ameaçado. Mas, naturalmente, o imperador conhecia também as disposições, desenvolvidas sucessivamente e fixadas no Alcorão, sobre a guerra santa.
Sem se deter em pormenores, como a diferença de tratamento entre os que possuem o "Livro" e os "incrédulos" ele, de modo tão brusco que nos surpreende, dirige-se ao seu interlocutor simplesmente com a pergunta central sobre a relação entre religião e violência em geral, dizendo: "Mostra-me também o que Maomé trouxe de novo, e encontrarás apenas coisas más e desumanas, como a sua ordem de difundir através da espada a fé que ele pregava".
O imperador, depois de se ter pronunciado de modo tão duro, explica minuciosamente as razões pelas quais a difusão da fé mediante a violência é irracional. A violência está em contraste com a natureza de Deus e a natureza da alma. "Deus não se apraz com o sangue diz ele não agir segundo a razão "σὺν λόγω", é contrário à natureza de Deus. A fé é fruto da alma, não do corpo. Por conseguinte, quem quiser levar alguém à fé precisa da capacidade de falar bem e de raciocinar correctamente, e não da violência e da ameaça... Para convencer uma alma racional não é necessário dispor nem do próprio braço, nem de instrumentos para ferir nem de qualquer outro meio com o qual se possa ameaçar de morte uma pessoa...".
A afirmação decisiva nesta argumentação contra a conversão mediante a violência é: não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus. O editor, Theodore Khoury, comenta: para o imperador, sendo um bizantino que cresceu na filosofia grega, esta afirmação é evidente. Para a doutrina muçulmana, ao contrário, Deus é absolutamente transcendente. A sua vontade não está relacionada com nenhuma das nossas categorias, mesmo que fosse a da racionalidade. Neste contexto Khoury cita uma obra do conhecido islamita francês R. Arnaldez, o qual ressalta que Ibn Hazm chega a declarar que Deus não estaria relacionado nem sequer com a sua própria palavra e que nada o obrigaria a revelar a nós a verdade. Se fosse a sua vontade, o homem deveria praticar também a idolatria.
A este ponto abre-se, na compreensão de Deus e por conseguinte na realização concreta da religião, um dilema que hoje nos desafia de maneira muito directa. A convicção de que agir contra a razão esteja em contradição com a natureza de Deus, é apenas um pensamento grego ou é sempre válido e por si mesmo? Penso que neste ponto se manifeste a profunda concordância entre o que é grego no sentido melhor e o que é fé em Deus sobre o fundamento da Bíblia. Modificando o primeiro versículo do Livro do Génesis, o primeiro versículo de toda a Sagrada Escritura, João iniciou o prólogo do seu Evangelho com as palavras: "No princípio era o λόγος". É precisamente esta a mesma palavra que o imperador usa: Deus age "σὺν λόγω", com logos. Logos significa ao mesmo tempo razão e palavra, uma razão que é criadora e capaz precisamente de se comunicar mas como razão. Com isto João deu-nos a palavra conclusiva sobre o conceito bíblico de Deus, a palavra na qual todos os caminhos muitas vezes cansativos e sinuosos da fé bíblica alcançam a sua meta, encontram a sua síntese.
No princípio era o logos, e o logos é Deus, diz-nos o evangelista. O encontro entre a mensagem bíblica e o pensamento grego não era um simples caso. A visão de São Paulo, diante da qual se tinham fechado os caminhos da Ásia e que, em sonho, viu um Macedónio e ouviu a sua súplica: "Vem para a Macedónia e ajuda-nos" (cf. Act 16, 6-10) esta visão pode ser interpretada como uma "condensação" da necessidade intrínseca de uma aproximação entre fé bíblica e o interrogar-se grego.
Na realidade, esta aproximação já tinha sido iniciada desde há muito tempo. Já o nome misterioso de Deus na sarça ardente, que afasta este Deus do conjunto das divindades com numerosos nomes afirmando apenas o seu "Eu sou", o seu ser, é, em relação ao mito, uma contestação com a qual está em íntima analogia a tentativa de Sócrates de vencer e superar o próprio mito. O processo iniciado na sarça alcança, no Antigo Testamento, uma nova maturidade durante o exílio, onde o Deus de Israel, agora privado da Terra e do culto, se anuncia como o Deus do céu e da terra, apresentando-se com uma simples fórmula que prolonga a palavra da sarça: "Eu sou".
Com este novo conhecimento de Deus caminha em sintonia uma espécie de iluminismo, que se expressa de maneira drástica no escárnio das divindades que seriam apenas obra das mãos do homem (cf. Sl 115). Assim, não obstante toda a dureza do desacordo com os soberanos helenistas, que queriam obter com a força a adaptação ao estilo de vida grego e ao seu culto idolátrico, a fé bíblica, durante a época helenista, ia interiormente ao encontro da parte melhor do pensamento grego, até chegar a um contacto recíproco que depois se realizou especialmente na literatura sapiencial tardia.
Hoje nós sabemos que a tradução grega do Antigo Testamento, realizada em Alexandria a "Septuaginta" é mais que uma simples tradução (que talvez se deva avaliar de modo pouco positivo) do texto hebraico: de facto, é um testemunho textual distinto e um especifico e importante passo da história da Revelação, no qual se realizou este encontro de uma forma que para o nascimento do cristianismo e para a sua divulgação teve um significado decisivo. No fundo, trata-se do encontro entre fé e razão, entre autêntico iluminismo e religião. Partindo verdadeiramente da natureza íntima da fé cristã e, ao mesmo tempo, da natureza do pensamento grego já fundido com a fé, Manuel II podia dizer: Não agir "com o logos" é contrário à natureza de Deus.
Honestamente é preciso anotar a este ponto que, no final da Idade Média, se desenvolveram na teologia tendências que rompem esta síntese entre espírito grego e espírito cristão. Em contraste com o chamado intelectualismo agostiniano e tomista iniciou com Duns Scott uma orientação voluntária, a qual no fim, nos desenvolvimentos sucessivos, levou à afirmação de que nós de Deus só conheceremos a voluntas ordinata. Para além dela existiria a liberdade de Deus, em virtude da qual Ele teria podido criar e fazer também o contrário de tudo o que efectivamente fez.
Aqui vêem-se posições que, sem dúvida, se podem aproximar às de Ibn Hazm e poderiam conduzir até à imagem de um Deus-Arbítrio, que não está relacionado nem com a verdade nem com o bem. A transcendência e a diversidade de Deus são acentuadas de modo tão exagerado, que também a nossa razão, o nosso sentido do verdadeiro e do bem já não são um verdadeiro espelho de Deus, cujas possibilidades abismais permanecem para nós eternamente inalcançáveis e escondidas por detrás das suas decisões efectivas.
Em contraste com isto, a fé da Igreja sempre se ateve à convicção de que entre Deus e nós, entre o seu eterno Espírito criador e a nossa razão criada, existe uma verdadeira analogia, na qual, como disse o Concílio Lateranense IV em 1215, sem dúvida as diferenças são infinitamente maiores que as semelhanças, mas contudo não até ao ponto de abolir a analogia e a sua linguagem. Deus não é mais divino pelo facto de que o afastamos para longe de nós num voluntarismo puro e impenetrável, mas o Deus verdadeiramente divino é aquele Deus que se mostrou como logos e como logos agiu e age cheio de amor em nosso favor. Sem dúvida, o amor, como diz Paulo, "ultrapassa" o conhecimento e é por isto capaz de compreender mais do que o simples pensamento (cf. Ef 3, 19), contudo ele permanece o amor do Deus-Logos, para o qual o culto cristão é, como diz ainda Paulo "λογικη λατρεία" um culto que concorda com o Verbo eterno e com a nossa razão (cf. Rm 12, 1).
A aqui mencionada recíproca aproximação interior, que se teve entre a fé bíblica e o interrogar-se sobre o plano filosófico do pensamento grego, é um elemento de importância decisiva não só sob o ponto de vista da história das religiões, mas também sob o ponto de vista da história universal um elemento que nos compromete também hoje. Considerado este encontro, não surpreende que o cristianismo, apesar da sua origem e de alguns seus desenvolvimentos importantes no Oriente, tenha por fim encontrado a sua marca historicamente decisiva na Europa. Podemos expressar isto também inversamente: este encontro, ao qual se acrescenta sucessivamente ainda o património de Roma, criou a Europa e permanece o fundamento do que, com razão, se pode chamar Europa.
À tese que o património grego, criticamente purificado, seja uma parte integrante da fé cristã, opõe-se o requerimento da deselenização do cristianismo, um requerimento que desde o início da idade moderna domina de modo crescente a pesquisa teológica. Visto mais de perto, podem-se observar três ondas no programa da deselenização: apesar de estarem relacionadas entre si, elas nas suas motivações e nos seus objectivos são claramente distintas uma da outra.
A deselenização emerge primeiro em ligação com os postulados da Reforma do século XVI. Considerando a tradição das escolas teológicas, os reformadores vêem-se diante de uma sistematização da fé condicionada totalmente pela filosofia, isto é, perante uma determinação da fé a partir de fora em virtude de um modo de pensar que não derivava dela. Assim a fé já não se apresentava como palavra histórica viva, mas como elemento inserido na estrutura de um sistema filosófico.
A sola Scriptura ao contrário procura a forma pura primordial da fé, do modo como está presente originariamente na Palavra bíblica. A metafísica aparece como um pressuposto derivante de outra fonte, da qual é necessário libertar a fé para a fazer voltar a ser totalmente ela mesma. Com a sua afirmação de ter que pôr de lado o pensar para dar espaço à fé, Kant agiu com base neste programa com uma radicalidade imprevisível para os reformadores. Com isto ele ancorou a fé exclusivamente à razão prática, negando-lhe o total acesso à realidade.
A teologia liberal dos séculos XIX e XX trouxe uma segunda onda no programa da deselenização: seu representante eminente é Adolf von Harnack. Durante o tempo dos meus estudos, como nos primeiros anos da minha actividade académica, este programa era fortemente operante também na teologia católica. Como ponto de partida era feita a distinção de Pascal entre o Deus dos filósofos e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. No meu discurso em Bonn, em 1959, procurei enfrentar este assunto e não pretendo retomar aqui todo o discurso. Mas gostaria de tentar ressaltar pelo menos em síntese a novidade que caracterizava esta segunda onda de deselenização em relação à primeira.
Como pensamento central sobressai, em Harnack, o regresso simplesmente ao homem Jesus e à sua mensagem simples, que viria antes de todas as teologizações e, precisamente, também antes das helenizações: seria esta mensagem simples que constituiria o verdadeiro ápice do desenvolvimento religioso da humanidade. Jesus teria dado um adeus ao culto em favor da moral. Em conclusão, Ele é representado como pai de uma mensagem moral humanitária.
A finalidade de Harnack no fundo é reconduzir o cristianismo em harmonia com a razão moderna, libertando-o, precisamente, de elementos aparentemente filosóficos e teológicos, como por exemplo a fé na divindade de Cristo e na trindade de Deus.
Neste sentido, a exegese histórico-crítica do Novo Testamento, na sua visão, coloca novamente a teologia no cosmos da universidade: teologia, para Harnack, é algo essencialmente histórico e, portanto, estrictamente científico. O que ela indaga sobre Jesus mediante a critica é, por assim dizer, expressão da razão prática e por conseguinte também sustentável no conjunto da universidade. Na base encontra-se a autolimitação moderna da razão, expressa de maneira clássica nas "críticas" de Kant, que entretanto foi ulteriormente radicalizada pelo pensamento das ciências naturais. Este conceito moderno da razão baseia-se, em síntese, num resumo entre platonismo (cartesianismo) e empirismo, que o sucesso técnico confirmou.
Por um lado pressupõe-se a estrutura matemática da matéria, a sua por assim dizer racionalidade intrínseca, que torna possível compreendê-la e usá-la na sua eficiência concreta: este pressuposto básico é, por assim dizer, o elemento platónico no conceito moderno da natureza. Por outro lado, trata-se da utilizabilidade funcional da natureza para as nossas finalidades, onde só a possibilidade de controlar a verdade ou a falsidade mediante a experiência fornece a certeza decisiva. O peso entre os dois pólos pode, segundo as circunstâncias, estar mais de uma ou mais da outra parte. Um pensador tão estreitamente positivista como J. Monod declarou-se platónico convicto.
Isto exige duas orientações fundamentais decisivas para a nossa questão. Só o tipo de certezas derivantes da sinergia de matemática e empírica nos permite falar de cientificidade. O que pretende ser ciência deve confrontar-se com este critério. E assim também as ciências que se referem às coisas humanas, como a história, a psicologia, a sociologia e a filosofia procuravam aproximar-se deste cânone da cientificidade. Contudo, é importante para as nossas reflexões o facto de que o método como tal exclui o problema Deus, apresentando-o como um problema acientífico ou pré-científico. Portanto, com isto encontramo-nos diante de uma redução do leque de ciência e razão que é obrigatório pôr em questão.
Voltarei ainda sobre este assunto. Neste momento é suficiente ter presente que, numa tentativa de conservar o carácter de disciplina "científica" da teologia à luz desta perspectiva, do cristianismo restaria apenas um miserável fragmento. Mas devemos dizer mais: se a ciência no seu conjunto é apenas isto, então é o próprio homem que, com isto, sofre uma redução. Mas as interrogações propriamente humanas, isto é, as do "de onde" e do "para onde", os questionamentos da religião e do ethos, não podem encontrar lugar no espaço da razão comum descrita pela "ciência" entendida deste modo e devem ser deslocados no âmbito do subjectivo. O sujeito decide, com base nas suas experiências, o que lhe parece religiosamente sustentável, e a "consciência" subjectiva torna-se portanto a única exigência ética.
Mas, desta forma o ethos e a religião perdem a força de criar uma comunidade e terminam no âmbito da discricionalidade pessoal. Esta é uma condição perigosa para a humanidade: verificamos isto nas patologias ameaçadoras da religião e da razão, patologias que necessariamente devem manifestar-se, quando a razão é limitada a tal ponto que as questões da religião e do ethos já não lhe dizem respeito. O que permanece das tentativas de construir uma ética partindo das regras da evolução ou da psicologia e da sociologia, é simplesmente insuficiente.
Antes de chegar às conclusões que todo este raciocínio tem por finalidade, devo mencionar ainda em breve a terceira onda de deselenização que se difunde actualmente. Em consideração do encontro com a multiplicidade das culturas hoje há quem goste de dizer que a síntese com o helenismo, realizada na Igreja antiga, teria sido uma primeira inculturação, que não deveria vincular as outras culturas. Isto deveria ter o direito de retroceder até ao ponto que precedia aquela inculturação para descobrir a simples mensagem do Novo Testamento e inculturá-la depois novamente nos seus respectivos ambientes.
Esta tese não é simplesmente errada; contudo é grosseira e imprecisa. De facto, o Novo Testamento foi escrito em grego e tem em si o contacto com o espírito grego, um contacto que se tinha maturado no desenvolvimento precedente do Antigo Testamento. Sem dúvida existem elementos no processo formativo da Igreja antiga que não devem ser integrados em todas as culturas. Mas as decisões de fundo que, precisamente, se referem ao relacionamento da fé com a investigação da razão humana, estas decisões de fundo pertencem à própria fé e são os seus desenvolvimentos, conformes com a sua natureza.
Com isto chego à conclusão. Esta tentativa, feita apenas em linhas gerais, de crítica da razão moderna a partir do seu interior, não inclui absolutamente a opinião de que agora se deva voltar atrás, à época anterior ao iluminismo, rejeitando as convicções da era moderna. Aquilo que no desenvolvimento moderno do espírito é válido, é reconhecido sem hesitações: todos estamos gratos pelas grandiosas possibilidades que ele abriu ao homem e pelos progressos no campo humano que nos foram proporcionados. O ethos da cientificidade, afinal, é como Vossa Magnificência mencionou, vontade de obediência à verdade e, por conseguinte, expressão de uma atitude que faz parte das decisões fundamentais do espírito cristão.
Por conseguinte, a intenção não é retracção, nem crítica negativa; ao contrário, trata-se de um alargamento do nosso conceito de razão e do seu uso. Porque com toda a alegria diante das possibilidades do homem, vemos também as ameaças que sobressaem destas possibilidades e devemos perguntar-nos como podemos dominá-las. Só o conseguiremos se razão e fé estiverem unidas de uma nova forma; se superarmos a limitação autodecretada da razão ao que é verificável na experiência, e lhe abrirmos de novo toda a sua vastidão. Neste sentido, a teologia, não só como disciplina histórica e humano-científica, mas como verdadeira teologia, ou seja, como interrogação sobre a razão da fé, deve ter o seu lugar na universidade e no amplo diálogo das ciências.
Só assim nos tornamos também capazes de um verdadeiro diálogo das culturas e das religiões um diálogo do qual temos urgente necessidade. No mundo ocidental domina amplamente a opinião de que só a razão positivista e as formas de filosofia dela derivantes sejam universais. Mas as culturas profundamente religiosas do mundo vêem precisamente nesta exclusão do divino da universalidade da razão um ataque às suas convicções mais íntimas. Uma razão, que diante do divino é surda e rejeita a religião do âmbito das subculturas, é incapaz de se inserir no diálogo das culturas.
Contudo, a razão moderna típica das ciências naturais, com o seu elemento platónico intrínseco, tem em si, como procurei demonstrar, uma pergunta que a transcende juntamente com as suas possibilidades metódicas. Ela mesma deve simplesmente aceitar a estrutura racional da matéria e a correspondência entre o nosso espírito e as estruturas racionais actuantes na natureza como um dado de facto, sobre o qual se baseia o seu percurso metódico. Mas a pergunta acerca do porque deste dado de facto existe e deve ser confiada pelas ciências naturais a outros níveis e modos do pensar à filosofia e à teologia.
Para a filosofia e, de maneira diferente, para a teologia, ouvir as grandes experiências e convicções das tradições religiosas da humanidade, especialmente a da fé crista, constitui uma fonte de conhecimento; recusar-se significaria uma limitação inaceitável do nosso ouvir e responder.
Vêm-me à mente a este ponto uma palavra de Sócrates a Fédon. Nos diálogos precedentes tinham sido tratadas muitas opiniões filosóficas erradas, e então Sócrates diz: "Seria muito compreensível se alguém, devido à irritação por tantas coisas erradas, para o resto da sua vida desprezasse qualquer discurso sobre o ser ou o denegrisse. Mas desta forma perderia a verdade do ser e sofreria um grande dano".
O ocidente, desde há muito tempo, está ameaçado por esta repulsa contra os questionamentos fundamentais da sua razão, e assim poderia sofrer unicamente um grande dano. A coragem de se abrir à vastidão da razão, não a rejeição da sua grandeza este é o programa com que uma teologia comprometida na reflexão sobre a fé bíblica, entra no debate do tempo presente. "Não agir segundo razão, não agir com o logos, é contrário à natureza de Deus", disse Manuel II, partindo da sua imagem cristã de Deus, ao interlocutor persa. Para este grande logos, para esta vastidão da razão, convidamos os nossos interlocutores no diálogo das culturas. Encontrá-la nós próprios sempre de novo, é a grande tarefa da universidade.
(negritos acrescentados)
© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana
Subscrever:
Mensagens (Atom)